TEORIA DA CONSPIRAÇÃO
(Conspiracy Theory) Diretor: Richard Donner. Mel Gibson, Julia Roberts, Patrick Stewart.136 min. USA 1997

Jerry é um motorista de Taxi que suspeita de tudo e de todos. A sua vida gira em volta de teorias de atentados políticos, ameaças terroristas, e uma verdadeira obsessão por conspirações contra o regime estabelecido. O seu delírio é tão sistemático que bastam os primeiros cinco minutos de filme para convencer-nos de que é um perfeito paranoico. E como não poderia deixar de ser, quando se fala do amor, observa a distância, contempla sua amada que, naturalmente, ignora o amor que Jerry devota a ela. Temos, pois um perfeito D. Quixote, que ao invés de moinhos de ventos luta contra ameaças políticas de espiões, que, na sua mente, estão perfeitamente organizados.

Mel Gibson encarna o papel sob medida. Sobra-lhe realismo e naturalidade para representar o paranoico que é, ao mesmo tempo, patético, perspicaz, ágil, tremendamente romântico. É como uma variação aprofundada e madura daquele policial com tendências suicidas que nada tem a perder quando se enfrenta com os bandidos sem escrúpulos da série “Máquina Mortífera”. Uma variação muito mais poética, sensível, pois afinal, D. Quixote é um cavalheiro andante. E como o fidalgo de La Mancha, sabe encaixar os golpes com elegância, sem poupar-se do sofrimento. Enquanto isso se agarra ao amor -enorme- que não confessa por timidez. Um herói encabulado, sem jeito. “Pensei em pedir a você que casasse comigo, como no estilo antigo…” O amor é um talismã para o cavalheiro: “Beije-me. Isso me dará boa sorte”.
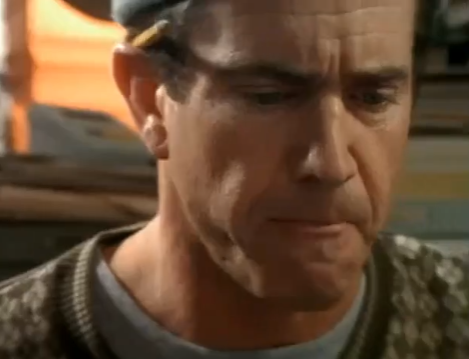
Dulcinéia é Alice, uma Procuradora da Justiça, que Julia Roberts representa maravilhosamente. Ponderada, continuamente surpresa com as audácias do Jerry, mas encantada e atraída por algo do que não consegue livrar-se. Falta no quadro Sancho, o contrapeso da realidade, que inutilmente procuramos sem encontrá-lo. Não seremos nós, os espectadores, os Sanchos que a trama requer para o perfeito equilíbrio do filme? E aqui, no envolvimento do espectador, está a originalidade desta produção arrojada, singular.

O grande mestre do suspense, Hitchcock, costumava comentar que o susto é algo que no cinema requer apenas alguns segundos. O suspense, pelo contrário, pode se estender por muito mais tempo -minutos, horas- pois é uma brincadeira na qual é preciso que o espectador participe com as suas emoções. Algo semelhante a um mágico, que desvia a atenção do público para o que é secundário, distraindo-o do principal onde se opera o truque do artista.

O cinema atual é repleto de sustos. E o que se denomina suspense recorre aos efeitos especiais -que sempre estão saturados de situações absurdas- muito mais do que às expectativas do público. O suspense deve tornar sua colaboradora a própria imaginação do espectador. que sempre é mais rica do que qualquer imagem. Daí que o bom suspense requer certo controle sobre a psicologia do espectador, levando-o pelos caminhos tortuosos do labirinto da indefinição. São os leques de possibilidades, as soluções desencontradas, as charadas -por citar outro clássico do suspense que leva esse nome- o convencer pela metade, as perplexidades quando o problema parecia resolvido, o refazer o nó que estava praticamente desfeito. Quer dizer, arte; não apenas na trama, mas na própria posta em cena, pois as imagens -ensinamento também de Hitchcock- tem de falar por si só. Se o espectador se perde nos diálogos -dizia o mestre do suspense- você fracassou como diretor de cinema.

“Teoria da Conspiração” é um filme na melhor linha do cinema diversão, entretenimento. Um filme de suspense com classe, onde a pergunta dos limites entre o normal e o patológico paira o tempo todo sobre o espectador. É o suspense -o querer saber o que realmente está acontecendo- mais do que a ação, o que prende o espectador na poltrona, até o fim. E, fosse pouca a âncora da emoção expectante, o diretor vai alinhavando a trama, ponto a ponto, com um romantismo quixotesco, elegante, sóbrio e real, que prende simultaneamente o coração do público. Tudo isso é possível -justo é destacá-lo- pela interpretação magnífica da dupla protagonista que enche as imagens, sobretudo nos primeiros planos, quando se exige muito dos atores. Os gestos, os olhos, a dor, a ternura de Jerry e Alice são convincentes. O que não é pouco, nestes dias em que quem mais quem menos tem de se esconder atrás de efeitos especiais -quando não de apelações grosseiras- porque lhe faltam recursos interpretativos.

As duas horas do filme -que a mídia não destacou com a justiça que merece, e até foi criticado pela excessiva metragem- passam sem sentir. Sobra no fim um bom sabor de boca, como naqueles filmes antigos, de finais em reticências, mas bons, excelentes, do vinho que se saboreia depois de engolido. É possível que até uma ponta de inveja desperte, como um desejo pouco sensato de querer viver uma aventura assim, perpassada de loucura e de realismo, recuperada pelo amor puro. Afinal, sem a loucura -que é parceiro inseparável do ideal- o que é o homem? No dizer de Fernando Pessoa, apenas uma besta sadia, um cadáver adiado que procria.

