George Orwell: As distopias do futuro, do passado e do presente
“A Revolução dos Bichos”. Companhia das Letras. São Paulo. 2007 120 págs.
“1984”. Companhia das Letras, São Paulo, 2009. 383 págs.
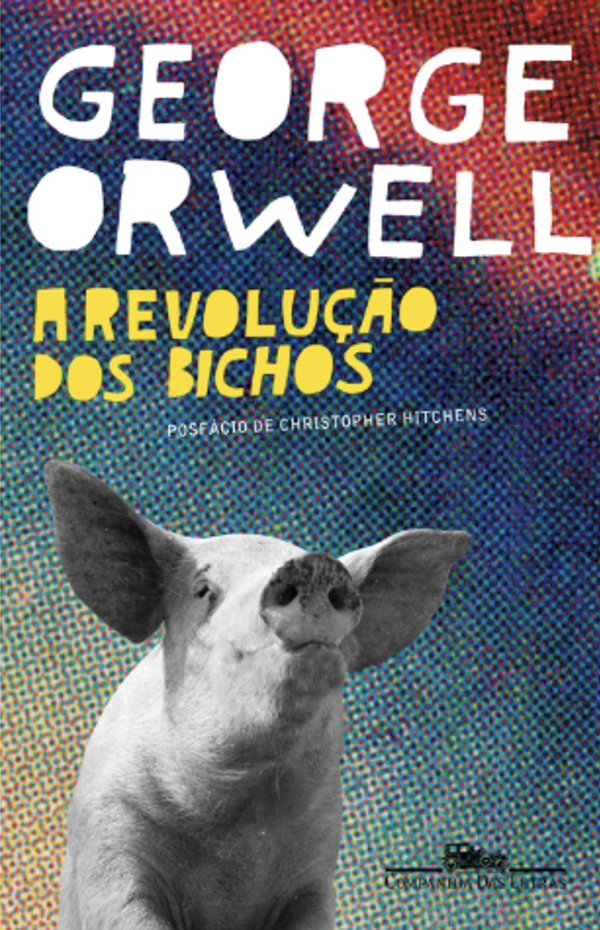
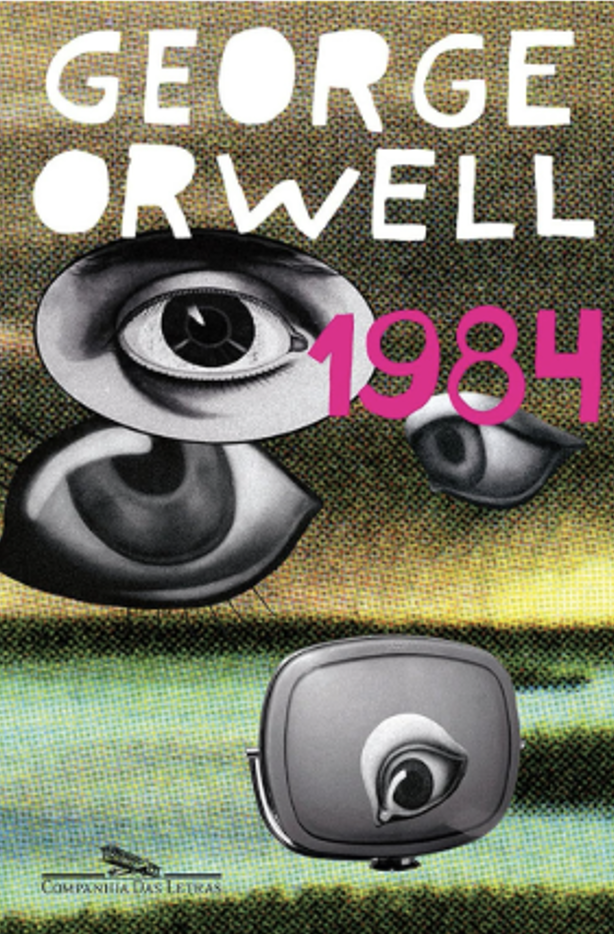
Tropecei nas últimas semanas, com alguns artigos e comentários -incluída uma crítica de teatro- que traziam George Orwell à pauta. Foi o suficiente para retomar a leitura dos seus dois livros clássicos que, conforme parece, foram em dobradinha, os dois livros mais vendidos nos últimos tempos: A Revolução dos Bichos, e 1984.
Orwell, um idealista nascido na Índia, no império britânico, sonhou com o socialismo, envolveu-se na revolução espanhola e se deu mal quando “a ficha caiu”. Na guerra civil espanhola, percebeu que os anarquistas estavam depurando o socialismo ideal no qual ele militava, e saiu com vida de milagre. A partir daí, voltou-se contra a ditadura soviética, e plasmou o seu pensamento nesses dois livros. Morreu em 1950, com 49 anos, pouco depois de publicar 1984.
A Revolução dos Bichos, publicado em 1945, no final da segunda guerra mundial, o cenário fictício é a rebelião dos animais -sempre oprimidos- buscando a liberação. Assim anota os gritos rebeldes: “Praticamente, da noite para o dia, poderíamos nos tornar ricos e livres. Que fazer, então? Trabalhar dia e noite, de corpo e alma, para a derrubada do gênero humano. Esta é a mensagem que eu vos trago, camaradas: rebelião (…) Fechai os ouvidos quando vos disserem que o Homem e os animais têm interesses comuns, que a prosperidade de um é a prosperidade dos outros. É tudo mentira. O Homem não busca interesses que não os dele próprio”.
A facilidade de palavra, o populismo animal, faz continuo ato de presença: “Manejava a palavra com brilho, e quando discutia algum ponto mais difícil tinha o hábito de dar pulinhos de um lado para o outro e abanar o rabicho, uma coisa bastante persuasiva. Diziam que Garganta era capaz de convencer de que preto era branco (…) E ainda vou poder usar laço de fita na crina?”, perguntou Mimosa. “Camarada”, explicou Bola-de-Neve, “essas fitas que você tanto estima são o distintivo da servidão. Não vê que a liberdade vale mais que laços de fita?” (…) Os Sete Mandamentos podiam ser condensados numa única máxima, que era: ‘Quatro pernas bom, duas pernas ruim’. Aí se continha, segundo ele, o princípio essencial do Animalismo. Quem o adotasse com firmeza estaria a salvo das influências humanas”.
Mas os anos passam, e não se chega ao paraíso sonhado e pregado. Com o tempo os clamores revolucionários se apagam, a vida segue e, muito importante -porque é muito atual, de hoje mesmo- se faz uma releitura da história: as coisas não são o que nos contaram, nem o que está escrito; é preciso reinterpretar tudo à luz da minha verdade de hoje: “Haviam nascido muitos animais; para alguns a Rebelião não passava de uma obscura tradição transmitida oralmente, e outros nem sequer tinham ouvido falar a respeito. A granja contava agora com três cavalos além de Quitéria. Eram bichos maravilhosos, trabalhadores incansáveis, bons camaradas, mas muito estúpidos. Nenhum mostrou-se capaz de aprender o alfabeto além da letra B. Aceitavam tudo quanto lhes era dito sobre a Revolução e os princípios do Animalismo, especialmente por Quitéria, a quem dedicavam um respeito filial, mas era duvidoso que entendessem lá grande coisa (…) A verdadeira felicidade, dizia, estava em trabalhar bastante e viver frugalmente. De certa maneira, era como se a granja tivesse ficado rica sem que nenhum animal houvesse enriquecido — exceto, é claro, os porcos e os cachorros. Não que esses animais não trabalhassem, à sua moda. Garganta nunca se cansava de explicar que havia um trabalho insano na ação de supervisionar e organizar a granja. Grande parte desse trabalho era de natureza tal que estava além da ignorância dos bichos. Tentando explicar, Garganta dizia que os porcos despendiam diariamente enormes esforços com coisas misteriosas chamadas “arquivos”, “relatórios”, “minutas” e “memos”. Grandes folhas de papel que precisavam ser miudamente cobertas com escritos e logo depois queimadas no forno”.
A ironia britânica e elegante de Orwell, me faz sorrir desse “esquecimento histórico” do que se pretendia, do que de fato temos, enfim, dessas historias que nos são tão próximas. Anota o escritor: “Tentavam determinar se nos primeiros dias da Rebelião, logo após a expulsão de Jones, as coisas tinham sido melhores ou piores que agora. Não conseguiam lembrar. Nada havia com que comparar: não tinham em que basear-se, exceto as estatísticas de Garganta, que invariavelmente provavam estar tudo cada vez melhor”. E enquanto se reescreve a história e a amnésia global progride -em pessoas e instituições- surgem, naturalmente, os conchavos; afinal, cada um tem que salvar a própria pele, e o que era heterodoxo nos inícios da revolução, hoje se apresenta como possibilidade para cada um amealhar lucros. A conversa final entre porcos -o alto comando da revolução- e os homens -os teóricos inimigos: “Se Vossas Senhorias têm problemas com vossos animais inferiores, nós os temos lá com nossas classes inferiores (…) Doze vozes gritavam, cheias de ódio, e eram todas iguais. Não havia dúvida, agora, quanto ao que sucedera à fisionomia dos porcos. As criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco e de um porco para um homem outra vez; mas já era impossível distinguir quem era homem, quem era porco”.
No Posfácio, se esclarece que “a ambição declarada de Orwell era analisar a teoria de Marx do ponto de vista dos animais. Qualquer um que conheça um pouco a história da Revolução Russa já terá percebido as semelhanças. E Orwell ainda fez o possível para sublinhar e enfatizar alguns paralelos. A excomunhão dos dissidentes, a reescritura da história, os julgamentos espetaculares e as execuções em massa são representados com grande nitidez. O que o romance na verdade nos diz, é que aqueles que renunciam à liberdade em troca de promessas de segurança acabarão sem uma nem outra. Essa é uma lição que transcende o momento em que foi escrita”.
É o próprio Orwell quem aponta que começou a escrever o livro em 1943 e uma vez finalizado foi rejeitado por quatro editoras. E acrescenta num dos prefácios recolhidos na edição que li: “Neste país, a covardia intelectual é o pior inimigo que um escritor ou jornalista precisa enfrentar, e esse fato não me parece estar sendo tão discutido quanto mereceria. Não é exatamente proibido dizer isso ou aquilo, mas dizê-lo é uma coisa que não se faz, assim como na era vitoriana falar de roupas de baixo na presença de uma senhora era coisa que não se fazia. A liberdade, se é que significa alguma coisa, significa o nosso direito de dizer às pessoas o que não querem ouvir. As pessoas comuns ainda acreditam vagamente nessa doutrina, e agem de acordo com ela. Neste nosso país — ela não é a mesma em todos os países; não era igual na França republicana, e não é a mesma nos Estados Unidos de hoje —, são os liberais que temem a liberdade e os intelectuais que querem jogar lama no intelecto: foi para chamar atenção para esse fato que escrevi este prefácio”.
Minha jornada com Orwell continuou com 1984, para completar o ciclo. Uma distopia escrita 40 anos antes (1949), e que 50 anos depois da data futura prevista, possui enorme atualidade. Os atores e circunstâncias são outros, mas os desafios são equivalentes, ou até piores.
Winston Smith, O Grande Irmão que está de olho em você, o Ministério da Verdade, a Polícia das Ideias e os pensamentos rebeldes que o protagonista, Winston, acaba plasmando no seu diário: “Para quem, ocorreu-lhe perguntar-se de repente, estava escrevendo aquele diário? Para o futuro, para os não nascidos (…) Bastava transferir para o papel o monólogo infinito e incansável que ocupava o interior de sua cabeça havia anos, literalmente”.
As campanhas que aglutinam as pessoas com o objetivo de que não pensem com liberdade. Os Dois Minutos de Ódio onde o pior não era o fato de a pessoa ser obrigada a desempenhar um papel, mas de ser impossível manter-se à margem. Uma técnica de convencimento que chega até as crianças, fazendo-as participar da irracionalidade: “Quase todas as crianças eram horríveis atualmente. O pior de tudo era que, por meio de organizações como a dos Espiões, elas eram transformadas em selvagens incontroláveis de maneira sistemática — e nem assim mostravam a menor inclinação para rebelar-se contra a disciplina do Partido (…) De repente as duas crianças estavam pulando em volta dele, gritando ‘Traidor!’ e ‘Criminoso’ do pensamento!, a garotinha imitando o irmão em todos os movimentos. Por alguma razão aquilo era um pouco apavorante, como as cambalhotas dos filhotes de tigre que não tardarão a crescer e tornar-se devoradores de homens”.
Pessoas que desaparecem, histórias apagadas, narrativas de reescritura da história, desfilam pelas paginas da distopia de Orwell: “As pessoas simplesmente desapareciam, sempre durante a noite. Seus nomes eram removidos dos arquivos, todas as menções a qualquer coisa que tivessem feito eram apagadas, suas existências anteriores eram negadas e em seguida esquecidas. Você era cancelado, aniquilado. Vaporizado, esse o termo costumeiro (…) Se o Partido era capaz de meter a mão no passado e afirmar que esta ou aquela ocorrência jamais acontecera — sem dúvida isso era mais aterrorizante do que a mera tortura ou a morte”.
A propaganda incessante para apagar o passado, para formatar as pessoas através do que Orwell chama teletelas: “Noite e dia as teletelas massacravam os ouvidos das pessoas com estatísticas que provavam que hoje a população tinha mais comida, mais roupa, melhores casas, melhores opções de lazer — que vivia mais, trabalhava menos, era mais alta, mais saudável, mais forte, mais feliz, mais inteligente, mais culta do que as pessoas de cinquenta anos antes. Não havia como provar ou deixar de provar uma só dessas afirmações. Tudo se esmaecia na névoa. O passado fora anulado, o ato da anulação fora esquecido, a mentira se tornara verdade (…) As únicas características indiscutíveis da vida moderna não eram sua crueldade e falta de segurança, mas simplesmente sua precariedade, sua indignidade, sua indiferença. A vida — era só olhar em torno para constatar — não tinha nada a ver com as mentiras que manavam das teletelas, tampouco com os ideais que o Partido tentava atingir”.
Winston experimenta diante dessa loucura um ato de rebeldia. Ou de loucura talvez? : “Considerou a hipótese, como tantas vezes antes, de ele próprio ser um doente mental. Talvez um doente mental fosse simplesmente uma minoria de um. Houvera um tempo em que se considerava sinal de loucura acreditar que a Terra girava em torno do Sol. Hoje, o sinal de loucura era acreditar que o passado era inalterável. Ele podia ser o único a acreditar naquilo e, se fosse o único, seria um doente mental. Mas a ideia de que talvez fosse um doente mental não chegava a perturbá-lo muito: o horror estava em também existir a possibilidade de que estivesse errado”.
Como rebelar-se? Como não aceitar a imposição de um verdade fabricada? A situação é precária como Orwell deixa bem claro: “Com exceção dos poucos centímetros que cada um possuía dentro do crânio, ninguém tinha nada de seu. Ortodoxia significa não pensar — não ter necessidade de pensar. Ortodoxia é inconsciência (…) Enquanto eles não se conscientizarem, não serão rebeldes autênticos e, enquanto não se rebelarem, não têm como se conscientizar”.
Nesse cenário, surge o amor, o sentimento, os afetos. “A visão das palavras amo você fizera transbordar nele o desejo de continuar vivo, e a ideia de correr riscos menores pareceu-lhe de repente uma burrice. A melhora na aparência de Julia era impressionante. Com algumas pinceladas de cor nos lugares certos, ela ficara não apenas mais bonita como, sobretudo, muito mais feminina. Levou o peso de papéis de vidro para a cama para poder vê-lo sob uma luz melhor. Winston tirou-o de suas mãos, fascinado como sempre pelo aspecto delicado do vidro, com as bolinhas que lembravam gotas de chuva. Você tem ideia do que seja isto?, indagou Julia. Acho que não é nada — quer dizer, acho que nunca foi usado para nada. É justamente por isso que gosto dele. É um pedacinho da história que se esqueceram de alterar. Uma mensagem de cem anos atrás, se alguém soubesse como lê-la.”
E a seguir, Winston e Julia mostram o lugar onde nem teletelas, nem o grande irmão são capazes de entrar: a intimidade do amor. “Quando você ama alguém, ama essa pessoa e mesmo não tendo mais nada a oferecer, continua oferecendo-lhe o seu amor. O que o Partido fizera de terrível fora convencer as pessoas de que meros impulsos, meros sentimentos, não servem para nada, destituindo-as, ao mesmo tempo, de todo e qualquer poder sobre o mundo material. A partir do momento em que você caísse nas garras do Partido, o que você sentia ou deixava de sentir, o que fazia ou deixava de fazer, não fazia nenhuma diferença (…) Não conseguem entrar em você. Se você conseguir sentir que vale a pena continuar humano, mesmo que isso não tenha a menor utilidade, você os venceu (…) Mas… e se seu objetivo não fosse permanecer vivo, e sim permanecer humano? Que diferença isso faria no fim? Eles não tinham como alterar seus sentimentos: aliás, nem mesmo você conseguiria alterá-los, mesmo que quisesse. Podiam arrancar de você até o último detalhe de tudo que você já tivesse feito, dito ou pensado; mas aquilo que estava no fundo de seu coração, misterioso até para você, isso permaneceria inexpugnável”.
O romance desenrolasse de modo árduo e penoso. Os sonhos de liberdade apontados pelo afeto são impossíveis de se atingir. A simulação de uma guerra continua, como desculpa para gerenciar o comando absoluto sobre os cidadãos. E, sobretudo, sobre o modo de pensar desses cidadãos: não interessa tanto o que fazem, mas sim o que pensam. Eis um trecho esclarecedor, e estarrecedor: “Só a mente disciplinada enxerga a realidade, Winston. Você acha que a realidade é uma coisa objetiva, externa, algo que existe por conta própria. Quando se deixa levar pela ilusão de que vê alguma coisa, supõe que todos os outros veem o mesmo que você. Mas eu lhe garanto, Winston, a realidade não é externa. A realidade existe na mente humana e em nenhum outro lugar. Não na mente individual, que está sujeita a erros e que, de toda maneira, logo perece. A realidade existe apenas na mente do Partido, que é coletiva e imortal. Tudo o que o Partido reconhece como verdade é a verdade. É impossível ver a realidade se não for pelos olhos do Partido. Não estamos preocupados com aqueles crimes idiotas que você cometeu. O Partido não se interessa pelo ato em si: é só o pensamento que nos preocupa”.
A edição que li contém vários posfácios, de onde recolho alguns parágrafos que são interessantes: “Todas as utopias negativas dão a entender que é possível desumanizar o homem por completo e ainda assim a vida continuar. É óbvio que a intenção delas é fazer soar um alarme, ao mostrar para onde estamos indo, caso não tenhamos sucesso na promoção do renascimento do espírito de humanismo e dignidade que está nas próprias raízes da cultura ocidental”.
De fato, foi isso que me aconteceu quando reli 1984, o desafio de pensar. Afinal, quais são as teletelas de hoje, onde está o grande irmão? E para surpresa e consternação comprovamos que somos nós mesmos os que instalamos teletelas e grandes irmãos supervisionando nossa intimidade. Voluntariamente, compulsivamente, em adição incontrolável. Redes sociais que recontam a história -somente o que está bem na fita, o resto se apaga-, perfis de Instagram que definem a ortodoxia no pensar e no figurar, espasmos emotivos plasmados em emoticons que nos policiam e dos quais voluntariamente somos reféns, e todo uma nova linguagem –Novafala, diria Orwell- que impõe o ritmo à nossa ação, ou melhor, reação e ao nosso sentir Nem o amor e a intimidade -que em 1984 conseguiam permanecer inexpugnáveis- são poupados. Um verdadeiro Admirável Mundo Novo, para não deixar de fora a Huxley, que rende consequências trágicas e toxicas, como já foi mostrado em Séries e Livros
Distopia do futuro? Do passado? Ou realidade, crua e nua, que nos cerca, nos subjuga, e nos dita o que é a verdade, conduzindo-nos à ortodoxia da inconsciência? De fato, como se lê em outro posfácio da edição utilizada: “Livros como o de Orwell são advertências poderosas, e seria lamentável se o leitor, de modo autocomplacente, interpretasse 1984 como mais uma descrição da barbárie stalinista, sem perceber que o livro se refere também a nós. É um livro sobre o presente contínuo: uma atualização da condição humana. O que mais importa é que ele nos lembra de muitas coisas nas quais normalmente evitamos pensar” . Uma bofetada que nos acorda e nos faz pensar.


Comments 2
Excelente Pablo!!!
Muito bom!