Zena Hitz: Lost in Thought. The Hidden Pleasures of an Intellectual Life.
Zena Hitz: Lost in Thought. The Hidden Pleasures of an Intellectual Life. Princeton University Press. 2020. New Jersey. 220 págs.
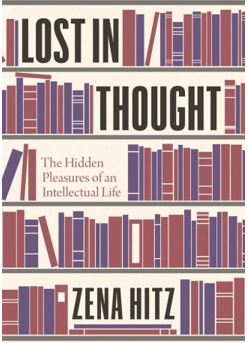
Chegou às minhas mãos, em publicação espanhola, uma entrevista com Zena Hitz professora de filosofia, pensadora e, pelo que rapidamente intui, uma dissidente da academia, inconformada com os moldes engessados que em nada ajudam na formação intelectual dos jovens….e dos menos jovens. Fui atrás do libro dela, encontrei somente a versão em inglês que li de bate pronto, e comento aqui em livre tradução, por dois motivos. O primeiro para servir de aperitivo nesta aventura do pensamento e da inteligência; e o segundo, para caso cair meu comentário nas mãos de algum editor comprometido, ver se decide publicar em português a obra da professora americana.
Para já, devo dizer que em muitos momentos lembrei do pensamento de Josef Pieper -O ócio a e vida intelectual- e, também, da contundente frase de Ortega que cito frequentemente, cada dia com maior vigor: a cultura é o que nos salva do naufrágio vital. São as ideias de sempre apresentadas com novos embrulhos para poder se comunicar. Isso é realmente importante, porque vivemos tempos onde não é possível apenas confiar no conteúdo do que transmitimos, mas é preciso cuidar as formas, a “interface” com o leitor, jovem, digital, inquieto, sem paciência para longos raciocínios.
O livro se inicia com o relato da sua trajetória pessoal, da “conversão intelectual” que intitula: de como lavar pratos restaurou a minha vida intelectual. Assim descreve, em breve síntese, quem era e quem se tornou: “Floresci na simplicidade e espontaneidade da vida na faculdade: o foco exclusivo na leitura e na conversação, a insistência em fazer perguntas humanas básicas, a convicção de que o valor da atividade intelectual está mais na busca do que na realização. O medo do fracasso tinha um outro lado: um desejo intenso de vencer no jogo do prestígio, de provar que sou tão boa quanto alguns e melhor que outros. Buscamos status e aprovação e o queremos às custas dos outros. Observamos e cultivamos, por exemplo, a emoção da crítica acadêmica, um ato ritual de humilhação que geralmente ocorre em público(…) E essa idolatria, reconhecida como celebridade, era o que queríamos para nós. Isso era simplesmente o que importava para nós – ou melhor, para aqueles de nós, como eu, que careciam de um núcleo interior de humanidade suficiente para se defender contra isso”.
Entrou no jogo acadêmico….e ficou nauseada: “A essa altura, eu havia me acostumado a ser recompensada por meu trabalho intelectual com dinheiro, status e privilégios. Ao longo do caminho, meu foco mudou – sem que eu percebesse – para os resultados do meu trabalho, e não para o trabalho em si. Eu havia perdido muito da capacidade de pensar livre e abertamente sobre um assunto, preocupada em não perder minha posição duramente conquistada na hierarquia social acadêmica (…) O que meus alunos estavam aprendendo comigo? Não muito, concluí. Não porque eu não me importasse ou não tentasse, mas porque os arranjos institucionais e as expectativas básicas tornavam o tipo de aprendizado que me interessava quase impossível. Foi raro um aluno escolher romper com a cultura do anonimato para buscar colaboração e orientação de pessoa para pessoa”.
Desliga-se da academia, vai buscar respostas num mosteiro, começa a lavar pratos. E anota: “Isso tornou mais fácil ver o trabalho não como um veículo para realização, mas como uma forma de serviço: talento e interesse eram valiosos, mas irrelevantes. Pude ver naquele tempo feridas no rosto das pessoas: olhares quebrados e vulneráveis. Senti que pertencia a uma comunidade mais ampla de seres humanos do que a comunidade de estudiosos. Qual era o sentido de estudar filosofia e clássicos? Que diferença concebível isso poderia fazer em face do mundo sofredor? Não ajudou em nada o fato de no mundo acadêmico ser famosa e verdadeiramente insular (…) Comecei a ver que o sofrimento humano não se limitava a eventos especiais e que não poderia acabar com a inversão de determinadas políticas. Não havia necessidade de esperar que os desastres acontecessem: eles eram onipresentes, assim como a responsabilidade por eles. O sofrimento era uma força cósmica, uma realidade sempre presente. Deixei de parar de olhar o sofrimento dos outros, como era meu hábito constante. Comecei a procurá-lo, a me forçar a um contato regular com ele”.
Cultura e conhecimento como serviço: essa é a grande descoberta de Zena: “A vida oculta da aprendizagem é o seu núcleo, o que importa nela. Se os computadores coletassem e organizassem tudo o que se chama conhecimento – não importa se realmente é conhecimento ou não – tal coleção seria inútil se não culminasse na compreensão pessoal de alguém, se não ajudasse alguém a pensar sobre as coisas, a trabalhar algo para fora, para refletir”.
Após essa introdução, expõe serenamente seus argumentos: “O aprendizado requer não apenas disciplina e incentivos sociais, mas também a orientação de anciãos sábios que sabem o que está por trás de certos caminhos e que estão dispostos a expor sua própria ignorância e incerteza ao orientar os jovens (…) Temos muitas metas finais, muitas vezes ao mesmo tempo, mas certas metas têm um efeito estruturante ou ordenador sobre outras. O efeito estruturante de alguns objetivos sobre outros sugere que temos uma orientação básica determinada por nosso fim último, o objetivo (supondo que exista um) que estrutura todas as nossas outras escolhas. Se não acreditarmos que temos uma única orientação básica, é muito difícil entender histórias comuns sobre como nossas vidas mudam”. E chega numa afirmação contundente: “Nosso objetivo final pode ser exibido por nossas escolhas como aquilo com o qual estamos mais comprometidos, algo pelo qual, quando todas as fichas acabarem, somos capazes de manter e não sacrificar em troca de outras coisas”.
E avança na importância do lazer -o ócio e a vida intelectual de Pieper- invocando os clássicos: “Por essa razão, Aristóteles argumentou que deve haver algo além do trabalho – o uso do lazer, pelo qual trabalhamos e sem o qual nosso trabalho é em vão. O lazer não é apenas recreação, que podemos empreender por causa do trabalho – para relaxar ou descansar antes de começar a trabalhar novamente. Em vez disso, o lazer é um espaço interior cujo uso pode contar como a culminação de todos os nossos esforços. Para Aristóteles, apenas a contemplação – a atividade de ver, entender e saborear o mundo como ele é – poderia ser o uso satisfatório do lazer. O lazer pode ser destruído em condições de trabalho terríveis projetadas por outros. O lazer também pode ser destruído por ansiedades impostas, não por culpa nossa, no aperto da vida. Pode ser destruído por comportamentos compulsivos que consomem todo o nosso pensamento e consciência. O lazer também pode ser destruído por nossas próprias escolhas”.
Hoje, mais do que nunca, é tanto o que gostaríamos de aprender -as provas da faculdade que o digam, cobra-se conhecimento enciclopédico que para nada serve- que não há espaço para o lazer. Quer dizer, não há tempo para sedimentar o conhecimento, para gerar reflexão que decanta em sabedoria. Anota Hitz: “Os trabalhadores tecnológicos urbanos, não economizam tempo para fins de contemplação de lazer ou passatempos saudáveis, mas sim para trabalhar ainda mais. Os ‘mestres’ de nossa atual classe de servos também não têm lazer. O escravo é escravo de um escravo, e hoje em dia, no topo da pilha de escravos, não há nem mesmo um fazendeiro explorador – escrevendo ensaios, dissecando animais e especulando sobre a natureza da política – mas outro escravo em um nível superior na classificação social”.
Impera, pois, refugiar-se do mundo através da filosofia e do conhecimento. O pensamento de Platão na República nos situa no cenário: “O filósofo permanece quieto e cuida de seus próprios assuntos. Como alguém que se refugia sob um pequeno muro de uma tempestade de poeira ou granizo levado pelo vento, vendo os outros cheios de ilegalidade, ele fica satisfeito se de alguma forma puder levar sua vida presente livre de injustiças e atos ímpios e dela sair com esperança, inocente e contente”. Mas o retiro do mundo para contemplar não é tarefa fácil: “O mundo é governado pela ambição, competição e busca ociosa por emoções. É um mercado onde tudo pode ser comprado e vendido. Mesmo os bens mais preciosos são reduzidos a produtos ou a espetáculos. Os seres humanos são principalmente veículos para alcançar os fins dos outros. A violência espera no final de cada espiral descendente e espreita por trás de cada sucesso aparente. O que significaria escapar do mundo? Que tipo de refúgio é possível?”
Zena Hitz invoca e comenta amplamente o filme -baseado num romance de impacto- A elegância do Ouriço. Obviamente retirar-se do mundo envolve deixar de lado um conjunto de preocupações, buscar uma forma de lazer que está além da rotina do trabalho, e que vale a pena por si mesma. Mas adverte que “nem toda preocupação desenvolve a vida interior nesse sentido: horas e horas passadas sozinhas assistindo ao YouTube não são o mesmo tipo de coisa que o retiro de Renée (a protagonista do filme). Tampouco é o exercício da auto preocupação comum, digamos, cultivar um gosto por licores obscuros, ou horas passadas no espelho tentando um penteado após outro até atingir a perfeição”. E conclui de modo surpreendente: “Para aqueles de nós sem força ou perspicácia para escolher por si mesmos lugares tão quietos e retraídos, o fracasso talvez seja o caminho mais trilhado para a interioridade”. Quer dizer, o aparente insucesso, o fracasso rotundo, pode ser o começo desse afastamento que a contemplação exige. Eis um pensamento essencial nos dias de hoje. Fazer limonada do limão, no sentido mais direto.
A autora convoca exemplos da vários personagens onde o fracasso -a prisão, por exemplo- trouxe benefícios intelectuais (André Weil, Malcom X, Antonio Gramsci). E adverte que a cultura por si, não é garantia de idoneidade: “A Alemanha do início do século XX estava no auge da cultura humana: ciência, literatura, erudição, música. O fato de ter se voltado para a conquista e o assassinato em larga escala desmente a afirmação de que a cultura superior é humanizadora em si mesma”.
Cultura que não é transitiva, quer dizer, que não está ao serviço dos outros, é inútil e tóxica. Essa é a diferença clássica entre erudição (cultura para mim) e a verdadeira cultura humanística (sabedoria ao serviço do próximo). “Falamos em nosso próprio benefício: para nos sentirmos confortáveis, para amenizar a ansiedade, para participar das lutas por poder e status ao nosso redor. Nosso propósito ao falar, raramente é comunicar a verdade sobre alguma coisa. Dessa forma, diminuímos o valor daqueles com quem falamos; nós os tratamos como nossas ferramentas e negamos sua dignidade”. Contundente, faz pensar!
O foco da escritora é consertar a pessoa que pretende crescer em cultura, dai a exigência que coloca: “A vida intelectual acaba sendo uma espécie de ascetismo, um afastamento das coisas dentro de nós mesmos. Nossos desejos de verdade, de compreensão, de insight estão em constante conflito com outros desejos: nossos desejos de aceitação social ou uma vida fácil, um objetivo pessoal específico ou um resultado político desejável. Assim, o retiro que o trabalho intelectual requer não funciona apenas como uma fuga. É também um lugar de distância salutar, um lugar para deixar de lado nossas agendas para considerar as coisas como elas realmente são (…) O intelecto não fornece uma fuga do “mundo” tanto quanto envolve uma fuga de si mesmo, das experiências imediatas de alguém e dos desejos e impulsos que elas provocam”. Somente então, é possível viver a distância do mundo tóxico: “É o compromisso humanístico geral da vida intelectual que a coloca para além da política. A política, mesmo em sua melhor forma, requer facções; requer divisões, lealdades, o poder emocional de nós contra eles. Sem cultura nem compromissos comuns”.
Como viver esse ascetismo que a vida intelectual requer? Responde Hitz: “O ascetismo é necessário porque o aprendizado não reside apenas em reinos rarefeitos para os quais se pode viajar, como alguém pode ir ao Himalaia ou ao Havaí. Faz parte do mundo social, participa dos vícios desse mundo e fornece seus próprios obstáculos(…) Nossa visão do amor ao aprendizado é distorcida por noções de utilidade econômica e cívica. Não vemos a vida intelectual com clareza, por causa de nossa devoção a estilos de vida ricos em conforto material e superioridade social. Queremos o esplendor do pensamento socrático sem a sua pobreza”
Uma sugestiva análise da obra de Aristófanes, As Nuvens, mostra o protagonista perdendo suas raízes pelos encantos do mundo, e a ruína que daí se decorre: “O amor pelo aprendizado se funde com o amor pela riqueza ou status quando vemos as atividades intelectuais como uma forma de ingressar em uma raça superior de seres, seja uma classe econômica superior ou uma elite ainda superior”. Traz à tona vários outros exemplos de quem perde as raízes através de uma cultura adquirida de modo egoísta. Anoto alguns: “Agora eu desprezava as pessoas entre as quais a necessidade me colocara. Uma educação melhor me tornou menos sociável (…) Eu odiava mais do que nunca o feio bairro da classe trabalhadora a que eu pertencia, e … bebês sujos deixados para uivar em seus carrinhos do lado de fora do bar. Depois de Oxford, tudo ficou tão feio.”. Erudição pura, nada de cultura nem de serviço.
Zena Hitz realiza um mergulho notável em Santo Agostinho, outro “converso” como ela, das sabedorias inúteis do mundo para o serviço do próximo. As Confissões aparecem em trechos convenientemente fatiados, e comentados. “Agostinho descreve a curiositas como um amor desordenado pelo conhecimento, o amor pelo aprendizado degenerado para a concupiscência dos olhos. Traduzirei curiositas como ‘amor ao espetáculo’. O pensamento de que o amor pela aprendizagem busca algo além dos sentidos, enquanto o amor pelo espetáculo é seduzido pelos próprios sentidos, explica o que Agostinho quer dizer com conhecer por conhecer. O amor de aprender sempre quer mais; o amor pelo espetáculo é satisfeito na superfície, como quem coça uma coceira em vez de tentar curar uma ferida. Trabalhamos por dinheiro, o que sustenta nosso trabalho contínuo. Trabalhamos ainda mais, por ainda mais dinheiro, temos ainda menos tempo para gastar em qualquer coisa, exceto para apoiar nosso trabalho. Eu me encanto com minhas próprias ações e minhas formas de fazer as coisas, só porque são minhas. É como se nosso amor por atuar por si só estivesse ligado ao amor de outra pessoa por um espetáculo. Mesmo a navegação solitária pelos canais – e certamente o uso compulsivo da mídia social – é um desejo confuso de comunhão. Queremos ficar na superfície com os outros”. Gostei desse atualização moderna, redes sociais incluídas, do pensamento do Bispo de Hipona. Ideias de sempre, com embrulho novo, tal como comentei no início.
Continuando com Agostinho revisitado no século XXI, a professora escreve: “Agostinho contrasta a pessoa que é curiosa com a pessoa que é estudiosa. Entendo a virtude da seriedade como uma vontade de buscar o que é mais importante, de ir ao fundo das coisas, de manter o foco no que importa. Enquanto o amante do espetáculo desliza sobre a superfície das coisas e se satisfaz com meras imagens e sentimentos, a pessoa séria busca a profundidade, anseia pela realidade. Ser sério é ponderar as próprias insatisfações, discernir o melhor do pior, o possível do impossível. Uma pessoa séria quer o que é melhor e mais verdadeiro para si”.
E para ilustrar o que é seriedade, relata-nos um fato do casal Maritain que é surpreendente e faz pensar: “Jacques Maritain conheceu sua futura esposa, Raïssa, em seu primeiro ano na Sorbonne. Eles fizeram um pacto de que, se não conseguissem descobrir o sentido da vida em um ano, cometeriam suicídio. (Felizmente, eles o descobriram dentro do prazo e sobreviveram.)”. E dos Maritain e Agostinho, um giro para o mundo atual: “Uma vida de ilusão, uma vida plugada em um cibermundo onde tudo acontece do nosso jeito, pode ser uma escolha prática, uma forma de remédio ou uma forma de enfrentar uma realidade insuportável. Mas garanto que não proporcionaria uma vida humana a que alguém aspirasse. Não a escolheríamos em nossa imaginação como uma vida gloriosa ou admirável. No fundo, queremos ser um certo tipo de pessoa, não apenas parecer a nós mesmos ser esse tipo de pessoa. A cibervida seria uma vida humana sem profundidade, uma vida nas superfícies, uma vida em que podemos muito bem reviver os espetáculos de gladiadores e nos dedicar à emoção de assisti-los – até porque ninguém será realmente assassinado (….) Certa vez, perguntei a um de meus alunos por que, em reuniões, os alunos preferiam olhar para seus telefones do que conversar uns com os outros. “Oh”, disse ele, “é muito mais fácil não se envolver!” O encontro envolve um risco. Ele fornece uma dor constante e inevitável como preço por suas satisfações reais”
No início do livro, Hitz deixa claro seu inconformismo com a academia. Volta a ela, no final, para garantir que ninguém esqueça esse recado que, no meu modo de ver, é essencial. Lá nos fala da “síndrome do impostor – a doença especial dos jovens estudantes de pós-graduação, que chegam aos seus programas convencidos de que todos sabem do que estão falando, e só eles estão imersos na ignorância, fingindo isso a cada passo. Não é tanto a inautenticidade quanto o medo interior da inautenticidade, a consciência de que ainda não se faz parte da classe social à qual se está lutando para ingressar”.
Fala dos seus dilemas que lembram aquela frase de Holderlin sobre o porquê da poesia em tempos de guerra: “Como estudante de pós-graduação em filosofia, fui assombrada pela perspectiva da inutilidade. O mundo sofredor clama para ser consertado. Como podemos escolher a vida intelectual em vez de uma vida de ação? Como podemos poupar tempo para contemplar, se isso significa perder vidas e meios de subsistência por inatividade? Ainda mais, como poderíamos justificar o trabalho da mente como central em nossa vida, em vez de ser simplesmente um passatempo divertido entre outros?”
A resposta da academia, decepcionante, é anotada em parágrafo contundente: “A educação apoiada por ativistas progressistas, educação que busca principalmente resultados sociais e políticos, em vez do cultivo de seres humanos livres e conscientes. Alguns são a imagem espelhada conservadora do ativismo progressista: a promoção de opiniões corretas sobre mercados livres ou liberdade econômica, novamente com vistas a resultados políticos amplos (…) Nossas instituições educativas, como são, dedicadas à transmissão amplamente anônima de opiniões corretas ou a trocas de ideias que não chegam a questões fundamentais, escolheram abreviar os laços profundos da unidade humana para o estreito, o superficial, o político. Desta forma, eliminam a insatisfação necessária para cultivar aspirações, optando pela satisfação de curto prazo de manter uma visão. O amor pela aprendizagem enfrenta a concorrência de muitos outros elementos humanos, nossos desejos pelas superfícies”.
E no final, o recado e a luz desse caminho possível para a filosofia, o amor à sabedoria: “Se a vida intelectual não for deixada em sua esplêndida inutilidade, ela nunca dará seus frutos práticos. A vida intelectual é fonte de dignidade humana exatamente porque é algo além da política e da vida social. Mas a retirada do mundo também é necessária porque a vida intelectual é uma prática ascética (…) Uma das doenças de nossa cultura crivada de espetáculos é que esquecemos que a vida invisível tem todo o esplendor humano da vida visível, e muitas vezes mais. Sempre tive em mente e, sempre que possível, recorri ao humilde rato de biblioteca, ao naturalista amador, ao motorista de táxi contemplativo. Se você, como eu, é naturalmente atraído pela realização, colete exemplos de pensadores comuns — seres humanos cujo esplendor é conhecido apenas por alguns, sua família, seus vizinhos, seus colegas de trabalho”.
A filosofia vivida no dia a dia, no quotidiano, retirando-se asceticamente, tomando tempo para contemplar. Uma atitude filosófica diante desse vida que, como dizia Ortega, nos é disparada a queima roupa, e que busca perpetuar-se nas palavras de Zena Hitz que fecham estes comentários com sabor transcendente: “Produzir arte, por longa tradição, é uma espécie de nascimento, uma espécie de fertilidade, uma busca pela imortalidade”


Comments 1
Interessante imaginar o que seria da vida acadêmica se os trabalhos científicos e as descobertas não trouxessem o nome de quem as fez. Será que as pessoas aceitariam dedixar grande parte do seu tempo aos estudos e pesquisas se não tivessem a perspectiva de divulgar o seu nome como autor? Quantas permaneceriam estudando e pesquisando se não pudessem ser elogiadas por isso? Acredito que sem a perspectiva de ganhar fama, títulos e status, a maioria não iria se dedicar aos estudos. O que expõe a natureza deturpada de seus objetivos acadênicos.