Alberto Moravia: Os Indiferentes
Livros do Brasil Coleção Dois Mundos. 2017. 296 págs.
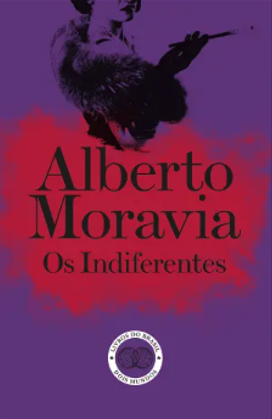
Como fui parar nesta leitura, de 1929? Tinha ouvido falar de Alberto Morávia, quando soube que foi casado com Elsa Morante, de quem li e comentei sua obra magna, A História. Mas foi recentemente, durante a leitura de um livro que me impactou, (Hemos perdido nuestros sentidos?) que parece não estar traduzido ao português, e deveria, quando encontrei este parágrafo provocador: “O escritor Ferdinando Camon anota: Temos três romances premonitórios desse período, três grandes obras precursoras dessa época que prenunciaram o mal moral que nos envenenaria. São eles Os Indiferentes, de Morávia, A Náusea, de Sartre, e O Estrangeiro, de Camus. Muitas vezes me perguntei qual das três obras nos representa mais. E respondo: Os Indiferentes. A náusea é uma rejeição do mundo (nós o vomitamos); sentir-se estrangeiro é uma separação (somos estrangeiros para o mundo). Com a indiferença, vemos e ouvimos, mas não somos perturbados. O cérebro e os nervos estão apáticos. Um excesso de mensagens nos dessensibilizou. A apatia moral é uma prática comum.”
Consegui um exemplar e iniciei a leitura, atento aos comentários do prefácio. Copio alguns parágrafos que me parecem essenciais para entender o escritor, e sua obra: “Alberto Moravia, um mestre narrador da alienação. Não tinha formação acadêmica, mas era um leitor voraz. Moravia foi extraordinariamente prolífico, e suas obras completas como narrador e ensaísta, incluindo peças teatrais, são difíceis de enumerar. Em relação à sua obra, contei mais de 560 livros ou artigos de destaque somente na Itália, observando que foi traduzida para vários idiomas e despertou o interesse de numerosos críticos estrangeiros. Os Indiferentes reflete o destino de uma geração que testemunhou a ascensão do fascismo, com repulsa, mas sem lutar, abrigada na consciência de sua impotência. Os protagonistas lutam contra a incapacidade de se comunicar, de apreender a realidade, enquanto tudo é dominado pelo que poderia muito bem ser chamado de doença dos objetos, visto que é impossível estabelecer contato verdadeiro com eles e uma relação genuína com a humanidade. Morávia nos mostra como a inação, o deixar-se levar, é o caminho de vida escolhido pela maioria das massas burguesas, que não têm motivos reais para lutar e, assim, são arrastadas para uma zona cinzenta, onde se tornam presas fáceis para qualquer predador disposto a se aproveitar dessa inércia para conduzir suas presas pelos caminhos mais vantajosos para si. Os traços dominantes de sua obra (a análise meticulosa do comportamento humano, a condenação da apatia moral e a consequente indiferença cívica de seus compatriotas) não são simplesmente anunciados neste romance: eles já estão capturados em uma narrativa e em personagens definitivos e memoráveis”.
E voltando ao escritor, o Prefacio adverte: “Moravia é, portanto, o tipo de escritor cuja obra mais importante é a sua primeira, e foi o precursor de uma espécie de existencialismo literário, que Sartre retomou 15 anos depois. Tratava-se, além disso, de uma prosa clara e precisa que contrastava com a literatura dominante da época. Este romance, publicado em 1929, tem a audácia de ousar ser um romance existencialista anos antes de Sartre inventar o Existencialismo. Isso foi descoberto posteriormente. Até então, era considerado um romance arriscado de denúncia social. Como frequentemente acontece com essas primeiras obras essenciais, tem sido frequentemente repetido que Moravia nada mais fez do que escrever constantemente o mesmo livro. Borges teria se sentido confortável com essa afirmação, mas o próprio Moravia também, que admitiu a veracidade do argumento, embora tenha observado que a diferença reside no fato de que sua maneira de ver os mesmos temas muda a cada ano”.
Entrando em matéria e já desfilando pelas páginas do livro, encontro cinco personagens -é quase uma obra de teatro, escrita em prosa- que são desconcertantes, insulsos, sem nenhum condimento. Em primeiro lugar a mãe, Maria Engracia: uma viúva que tem uma relação estranha com os filhos, e com Leo, o amante. “Ela nunca quis saber nada sobre os pobres, nem mesmo saber seus nomes. Sempre se recusara a admitir a existência de pessoas humildes que trabalhavam duro e viviam miseravelmente. ‘Eles vivem melhor do que nós’, sempre dizia. ‘Somos mais sensíveis e mais inteligentes, e é por isso que sofremos mais do que eles’. E agora, de repente, ela se viu forçada a se juntar à multidão dos miseráveis. Mas, por mais que tentasse, aquela ruína lhe era estranha; era como assistir alguém se afogando e não levantar um dedo (…) Olhava pela janela, mas mais para ser vista do que para ver. Aquele carro grande e luxuoso lhe dava uma sensação de felicidade e riqueza, e cada vez que uma cabeça pobre ou vulgar emergia da agitação sombria da rua e, carregada pela corrente da multidão, passava diante de seus olhos, ela gostaria de gritar: ‘Você, cretino nojento, está a pé. Bem feito. Você não merece nada menos. Em contraste, é justo que eu caminhe por entre a multidão, apoiada em almofadas macias.”
Miguel, o filho, que é a indiferença em estado puro. “Penso -respondeu ele em tom grave, fechando os olhos- que bastaria um pequeno esforço para ser sincero; em vez disso, fazemos todo o possível para ir na direção oposta. Miguel não se mexeu. Nunca vira o ridículo tão confundido com a sinceridade, a falsidade com a verdade. Somos todos iguais, pensou. Entre as mil maneiras de fazer algo, sempre escolhemos instintivamente a pior (…) Um homem forte, um homem normal, teria se ofendido e protestado; ele, por outro lado, não… Ele, com um humilhante senso de superioridade e desprezo compassivo, permaneceu indiferente. Não sabia odiar um homem que invejava, apesar de si mesmo”.
Carlota, a filha, que tem nojo da vida que leva, mas também não consegue decolar com classe, e tudo o que se lhe ocorre é uma tentativa de roubar o amante da própria mãe, obviamente não por amor, mas a modo de motor de arranque. “Por que rejeitar Leo? Essa virtude a deixaria nos braços do tédio e do pequeno desprazer da vida cotidiana. Parecia-lhe também que, devido a um gosto fatalista por simetrias morais, essa aventura quase familiar seria o único epílogo que sua antiga vida merecia. Depois, tudo seria novo: a vida e ela mesma (…) Tudo isso, na verdade, era muito atraente, assim como ter um carro, uma casa, joias, viajar, conhecer pessoas e países estranhos; enfim, não conhecer os limites da própria atividade e dos próprios desejos”.
Leo Merumeci, o amante da mãe -e de outras- um indivíduo sem escrúpulos que, curiosamente, é o menos apático de todos: “Mas você quer saber -acrescentou, servindo-se de um pouco de vinho- por que vocês três não são como eu? Por quê?. Porque vocês se irritam com coisas que não valem a pena”. Um homem sensual arrastado pelas próprias paixões, sem perder a classe externa: “A princípio, a ideia de retornar a antiga amante parecia absurda. Ele não gostava de refazer caminhos já trilhados. Esta visita parecia comida requentada (..) Carlota, de vez em quando, enquanto se contorcia, via o rosto corado do homem, tomado por uma luxúria maligna e quase senil, aproximar-se do seu”.
O resultado dessa equação de personagens apáticos torna-se transparente nas descrições, pensamentos em voz alta, surpreendentes, transpirando indiferença: “Dinheiro; sim, faltava dinheiro. Carlota entraria na casa do marido tal como viera ao mundo, nua, rica apenas em virtudes. Nem sempre se pode dizer a verdade. As convenções sociais muitas vezes obrigam-nos a fazer exatamente o oposto do que queremos. Caso contrário, nunca se sabe onde acabaríamos (…) Eis o que eu gostaria de saber, repetiu: se é possível continuar assim todos os dias, com este tédio; nunca mudar, nunca abandonar estas misérias e deleitar-nos com toda esta estupidez que nos passa pela cabeça; discutir e lutar sempre pelos mesmos motivos; nunca nos levantar do chão (…) Acho, disse Miguel calmamente, que Carlota apenas tocou na verdade. Tudo isto é mais do que aborrecido: é repugnante. Mas protestar é inútil; é melhor habituar-se. Olhou para eles e perguntou-se ansiosamente: ‘Será possível que este seja o meu mundo, a minha gente?’ Quanto mais ele os ouvia, mais ridículos eles pareciam, mais incompreensíveis em sua sinceridade solitária”.
A narrativa alterna das personagens aos locais, que também carecem de tempero e de qualquer brilho, sendo o tédio quem preside. “Havia as conversas de sempre, as mesmas coisas, mais fortes que o tempo e, sobretudo, a mesma luz, desprovida de ilusões e esperanças, particularmente habitual, desgastada pelo uso como o tecido de um vestido. O quarto era aconchegante, confortável e íntimo, mas com uma intimidade ambígua, ora madura (por exemplo, a penteadeira com seu tapete desbotado, empilhada de perfumes, pós, pomadas, ruges e aquelas duas ligas rosa penduradas ao lado do espelho oval), ora infantil. As roupas abandonadas nas cadeiras, os frascos abertos, os sapatos espalhados pelo chão davam ao quarto uma aparência de desordem muito feminina e ajudavam a complicar o mal-entendido”.
Mas sou obrigado a voltar a Miguel, porque ele é a essência da indiferença, a apatia patológica que se incorpora nele como uma segunda natureza. Descrições magníficas que fazem entrever a personagem com a qual estamos lidando, que se escapa de entre as nossas mãos como matéria amorfa. Por exemplo, seu sentimento para com Leo, que parece desprezar, até odiar, mas é incapaz de passar para ação: “Sentia-se frio, indiferente. As palavras que saíam de sua boca eram falsas, e sua voz era falsa. Onde estavam a exaltação, o desdém? Talvez fossem sentimentos inexistentes. Mas, momentos depois, percebeu, para seu espanto, que não sentia a menor raiva. Pelo contrário, estava muito calmo. Nenhum ato de Leo, por mais maligno que fosse, conseguia abalar sua indiferença. Mas o perdão não é a forma mais refinada de vingança? Sim, mas que perdão? O afetuoso, o alegre, ou o desdenhoso, jogado na cara como uma esmola?”
Essa relação doentia -espasmos de sensações, sem desembocar em nenhuma ação- é o prato forte onde Morávia estampa a indiferença de modo contundente: “Entendeu que precisava superar sua indiferença de uma vez por todas e agir. Sem dúvida, a ação lhe foi sugerida por uma lógica estranha à sinceridade. Amor filial, ódio pelo amante de sua mãe, afeição familiar — eram sentimentos que ele desconhecia. Mas que importância tinha? Quando não se é sincero, é preciso fingir que se é, e à força de fingir, acaba-se acreditando. Este é o princípio da fé (…) Não sentia pena da mãe, nem ódio por Leo; sentia-se supérfluo e inútil. Por um momento, sentiu uma vontade violenta de agir, de questionar, de lutar, de protestar. Então, com uma sensação de humilhação e tédio, pensou que, afinal, aquilo não lhe dizia respeito. Quem não sente nada, apensa indiferença deve fingir. Pois é o que acontece comigo: finjo odiar o Leo, amar a minha mãe…”.
A indiferença do título, concentra-se na personagem de Miguel que assume contornos quase nauseantes: “Pensou sombriamente em expiar uma falta esquecida por meio daquela triste busca; cada vez que se abaixava, gostaria de se quebrar e permanecer no chão, como um objeto caído e desprezado. Por mais que se esforçasse, não conseguia se interessar por aquele velho espetáculo da rua em movimento. A angústia que tão irracionalmente o dominara enquanto atravessava os corredores vazios do hotel não o abandonava. A imagem do que ele era, do que não conseguia deixar de ser, o assombrava. Julgava ver a si mesmo: sozinho, miserável, indiferente… Enquanto isso, sua angústia aumentava. Disso não havia dúvida. Já conhecia o processo: primeiro, uma vaga incerteza, um sentimento de desânimo, de vaidade, uma necessidade de se esforçar, de se apaixonar por algo; depois, aos poucos, uma garganta seca, uma boca amarga, olhos arregalados, a repetição insistente, dentro de sua cabeça vazia, de certas frases absurdas; em suma, um desespero furioso e desprovido de qualquer esperança. O desdém que sentia por si mesmo aumentava. Não conseguia mudar. Era assim, preguiçoso, indiferente. Aquela rua chuvosa era a imagem de sua própria vida, percorrida sem fé nem entusiasmo, com os olhos ofuscados pelas luzes falsas dos anúncios. Como o mundo deve ser belo, pensou com tristeza irônica”.
O existencialismo que o Prefácio advertia, toma forma no sem sentido em que a vida de Miguel se configura. Desfilamos com dor e angústia pelos seus pensamentos em forma de solilóquios: “Todas essas pessoas sabem para onde vão e o que querem. Têm um objetivo, e por ele se apressam, se atormentam, se lamentam e se alegram, vivem. Eu, por outro lado, não tenho nada… Nenhum objetivo… Se não estou caminhando, estou sentado: tanto faz, é tudo a mesma coisa. Quando a vida não é, como agora, ridícula, mas trágica; quando se morre de verdade, quando se mata e odeia, quando se ama de verdade, quando lágrimas de verdade são derramadas por infortúnios de verdade, e todos os homens são feitos de carne e osso, e estão enraizados na realidade como as árvores estão na terra… Como deve ser belo! (…) Por outro lado, com a inspiração de um comediante obrigado a desempenhar o seu papel, ele adotara aquela atitude irônica, acreditando ser a mais apropriada, a mais natural e tradicional em tais circunstâncias: algumas palavras, uma saudação, e lá se foi. Mas então, uma vez lá, não havia ciúme nem dor: apenas um desgosto intolerável pela sua versátil indiferença, que lhe permitia mudar as próprias ideias e atitudes todos os dias, como os outros mudam de roupa. Uma defesa branca e lisa, tristezas e alegrias passavam como sombras sobre a sua indiferença, sem deixar vestígios, e, por reflexo, como se a sua inconsistência se comunicasse ao mundo exterior, tudo à sua volta não tinha peso nem valor. Era tão efêmero quanto um jogo de luz e sombra”.
Uma das reflexões finais de Miguel é o golpe de misericórdia que chancela sua indiferença patológica: “Vejamos, pensou ele. O caso tem dois lados, um interno e um externo. O lado interno é a minha indiferença, minha falta de fé e sinceridade. O lado externo são todos os eventos aos quais não sei como reagir… E ambos os lados são igualmente intoleráveis”.
Após resumir as anotações -que resultaram muito mais longas do que imaginei no início, pois é de indiferença que estamos falando- volto sobre o livro que despertou meu interesse pela obra de Moravia. Seria impossível -e uma pretensão arrogante- resumir esse livro. Mas não consigo, nem quero evitar, traduzir alguns parágrafos (li a versão em espanhol) que me parecem sublimes na análise dos tempos que vivemos.
Amedeo Cencini -esse é o nome do autor- intitula a introdução do seu estudo de modo provocador: Do homo sapiens ao homo insensatus (entendendo por insensatus, a criatura que perdeu os sentidos). E descreve a seguir o que denomina a grande anestesia dos sentidos humanos: “Nossos olhos estão cheios de imagens e somos cada vez mais míopes; estamos completamente cercados de sons e não ouvimos mais nada. O perfume das coisas é uma vaga lembrança: ingerimos substâncias que tornam inútil nosso olfato. Tocamos tudo e não somos mais tocados por nada; conhecemos a intimidade da alegria, a intimidade da dor, a nossa e a dos outros, apenas como excipiente para a propaganda para nos vender alguma coisa. Não conhecemos mais os segredos, os tempos, as emoções, os impulsos da verdade que tocam o coração e as passagens de longo prazo que nos excitam para sempre.”
E a seguir, citando vários autores -nota-se que conhece bem o tema, e lê muito- aponta: “Perdemos os sentidos. Perdemo-los quase sem nos darmos conta, quando tudo ao nosso redor parecia indicar seu triunfo: culto ao corpo, exaltação da sensualidade em um frenesi de consumo, viagens e experiências paroxísticas. Perdemo-los. Dos sentidos, esses verdadeiros, tudo o que resta são máscaras pálidas, substitutos, misturas insípidas e indigestas. Inundados de imagens, atordoados pelo ruído, embrutecidos pela vulgaridade e pela banalidade, anestesiados por desodorantes e perfumes, atordoados por tranquilizantes, nos encontramos, de um dia para o outro, com uma série de próteses sofisticadas (celulares, smartphones, câmeras microscópicas…) e cada vez mais insensíveis: alheios à dor do mundo e, no entanto, prontos a derramar uma lágrima de compaixão quando a morte se torna um espetáculo”.
E outro parágrafo contundente: “O homem moderno sonhou em substituir os sentidos por instrumentos tecnológicos, por centros de informação precisos, prontos para se conectar a qualquer momento que ele precise ou ordene. Assim, a fantasia de ligar diretamente a mente humana ao mundo se concretizou, deixando o corpo isolado, um fardo sempre considerado um obstáculo e, após o abandono dos sentidos, um campo de caça para a cosmética e a cirurgia estética.
Prossegue a explicação, dissecando as causas de modo surpreendente: “Mas o que significa perder os sentidos? Significa que perdemos não apenas o prazer, mas também o controle; não apenas a celebração, mas também o apoio, a substância, a solenidade. Significa, de forma mais precisa e dramática, que corremos o risco de nos tornarmos insensíveis, de perder outra dimensão ou componente típico da nossa humanidade: a sensibilidade. Os sentidos são ofuscados e perdemos a alma. A razão é simples. Nossos sentidos são feitos para as qualidades do espírito: esvazie-os sistematicamente dessa vitalidade e você os encontrará tão cadavéricos que serão lamentáveis (…) Estamos nos referindo ao que chamamos de sensibilidade das pessoas, entendendo isso como a mais alta e valiosa qualidade dos seres humanos. A sensibilidade humana está sendo alvejada. Desnaturalizada, ridicularizada e, o mais rápido possível, removida cirurgicamente. Se os nossos sentidos, os cinco valores que sustentam o nosso corpo, são auxiliados por uma infinidade de próteses, proteções, provisões…, nós, por outro lado, tornamo-nos cada vez mais insensíveis”. Esse é o resultado, o saldo tremendo e profundo, da leitura de Moravia e de Cencini. Não consigo separar um do outro, pois ambos despertam minha atenção para esse desafio tão atual, para o esforço que é preciso fazer para que a sensibilidade não se atrofie, num mundo epidémico de apelos sensíveis, espasmódicos e vazios. O conselho que Cencini empresta de Pascal é uma ótima advertência: “Mentes pequenas preocupam-se com coisas extraordinárias; mentes grandes, com coisas comuns.” Para ter a mente desperta, a literatura, as artes, as humanidades são os grande aliados.

