Mark Twain: “Joana D’ Arc”. Record. Rio de Janeiro. 2001. 472 pgs
A tertúlia literária deste mês, leva-nos até Joana D’Arc, no magnífico retrato que dela faz Mark Twain. O autor americano chegou a afirmar que este livro, o último que escreveu, era a sua melhor produção, mesmo não tendo agradado a todos. Talvez porque Twain, após profunda pesquisa, afeiçoou-se da personagem, até o ponto que o escritor incarna Louis de Conte, o escudeiro de Joana d’Arc, que foi companheiro na infância, e de sangue nobre. O resultado é agradável, encantador, transpira ingenuidade e clareza. Não é apenas um relato histórico frio, mas permita ao leitor envolver-se afetivamente, a semelhança do próprio autor, que culmina num canto à heroína francesa.
O envolvimento afetivo, porém, não tira seriedade à investigação histórica, e Mark Twain faz questão de explicitá-lo: “Considero pouco razoável formar uma opinião quando não há suficientes provas para fundamentá-la. Criar uma pessoa desprovida de ossos poderia resultar de aspectos agradável, mas seria frágil, não se sustentaria em pé. A evidência é como o osso, o esqueleto, de uma opinião”.
O cenário situa-se no epílogo da Guerra dos Cem anos. Iniciada em 1337, prolongou-se ano após ano, até a Inglaterra submeter a França em Crécy. Recuperou-se a França até a nova derrota em Poitiers. E finalmente, após nova recuperação, foi humilhada no desastre de Azincourt. Joana surge em 1429 com a missão clara de liberar Orleans do poderio inglês e conduzir o herdeiro da coroa francesa -o Delfim- para ser coroado em Reims.
As lembranças de Louis de Conte iniciam-se na infância, quando Joana, ainda criança, olvidava-se de si mesma e do perigo que corria, sempre em favor dos demais. “Nós o considerávamos normal nela, ninguém reparava nessa generosidade natural que aquela menina demostrava. Mas era indicação de um caráter definido e maduro que nós aceitávamos como algo já sabido”.
O caráter íntegro e sincero que Joana demostrava na infância, faz-se presente quando se sente convocada para guiar as tropas francesas. Assim descreve Twain o impacto do comando da jovem camponesa, sem instrução, mas com uma personalidade cativante: “O cavaleiro divertiu-se muito com a desenvoltura de Joana vendo-a tratar com o chefe dos inimigos, celebrando a facilidade com a qual enganou o comandante, mesmo sem ter dito nenhuma falsidade. (..) Ela nunca alteraria a verdade para salvar sua vida, nem em benefício próprio. Nós, seguindo nossa particular moral de guerra, nunca vacilaríamos em mentir ou enganar para comprar a tranquilidade, a vida, ou conseguir vantagens na luta. Essa diferença de motivação entre seus princípios e os nossos não a valorizamos naquele momento. Somente depois, quando tudo passou, reparamos que ela obedecia a algo superior, que a elevava por cima dos nossos afãs humanos, e a fazia mais nobre e mais bela”.
Joana tem que convencer em primeiro lugar o Delfim e os seus medíocres conselheiros, da missão que lhe é encomendada. Iniciam-se assim as comissões examinadoras, para avaliar se a camponesa analfabeta é mesmo uma enviada de Deus para liberar França dos Ingleses ou apenas uma visionária desequilibrada. Anota Louis de Conte, sobre o caráter mesquinho desses tribunais: “A natureza dos homens leva-os a comportar-se da mesma forma em qualquer lugar e situação: magnificar os triunfos, e mostrar desprezo nas derrotas (…) Ao invés de escolher uma comissão militar que julgasse a qualidade da estratégia proposta por Joana convocavam um grupo de clérigos mal humorados para averiguar se não tinham falhos doutrinais. É como os ratos invadindo a casa e ao invés de revisar as garras e dentes do gato, queriam saber se era um gato sagrado; no caso do gato mostrar-se piedoso e doutrinalmente reto, tudo andaria bem. As outas qualidades não importavam”.
Joana passa por todas os tribunais provatórios com louvor, e causando surpresas: primeiro nas respostas, e depois na ação bélica. “Por Deus , que está menina disse a verdade. Deus quis que Golias fosse vencido e para tal enviou um jovem da idade de Joana para fazê-lo (…) Os capitães e velhos guerreiros não tinham no início intenção de obedecer a Joana, salvo quando lhes chegassem ordens que encaixavam nos seus esquemas. Não podemos culpa-los por isso; todos eram lutadores veteranos, de cabeça dura e com grande experiência prática. Não podiam facilmente crer na capacidade de uma menina ignorante nem nas suas habilidades para projetar uma guerra e dirigir exércitos. Nenhum general dessa época, ou de qualquer outra, teria levado Joana a sério antes do seu êxito na liberação de Orleans, seguido da brilhante campanha do Loire (…) Os resultados daquelas marchas mostram o que eram capazes de fazer alguns homens quando são conduzidos por um chefe que sabe onde vai e está dotado de uma resolução inquebrantável. (…) Um misterioso impulso que infunde ânimo nos soldados e converte manadas de covardes em exércitos valentes que esquecem o medo quando o líder está presente”.
Pergunta-se Twain e também o leitor: “Quem ensinou à camponesa a realizar essas maravilhas? Um mistério desconcertante como não se conhece outro igual. Um enigma incompreensível que nunca se resolverá. Penso que seus extraordinários poderes e sua inteligência militar eram qualidades inatas que ela aplicava utilizando uma intuição que não lhe podia falhar”.
Realizada a missão -Orleans livre, e o Rei Carlos VII coroado garantindo a continuidade da monarquia francesa- Joana é feita prisioneira. Em poder do duque da Borgonha e da sua gente -franceses mancomunados com os ingleses- sucede-se o processo, julgamento e o final da história que conhecemos bem. Pierre Cauchon, um bispo francês a serviço dos ingleses, é o infame articulador do procedimento e do juízo, pantomima absoluta, repleto de mentiras e conchavos. Não bastava eliminar a Joana, ou deixa-la morrer. Era preciso condená-la como herege e bruxa, como capanga de Satanás para evitar que se transformasse em mártir.
O relato de Louis de Conte deixa transparecer as decepções que afligem o jovem escudeiro -certamente também a Mark Twain e ao próprio leitor: “Eu era jovem e ainda não tinha descoberto as pequenas mesquinharias da miserável raça humana”. Mas aquilo que parecia simples aos infames juízes -inculpar de heresia a uma caipira iletrada- transformou-se num verdadeiro tour de force, onde, uma vez e outra, Joana saia vitoriosa. “As horas se converteram em dias, a escaramuça resultou um assedio; o que parecia simples acabou tornando-se difícil; a vítima que parecia delicada como uma pena, estava firme como a rocha, e a única que ali ria era a camponesa e não o tribunal. Não era Joana quem ria -não era do seu caráter- mas o povo o fazia por ela. A cidade inteira gozava-se na inépcia dos juízes que eram continuamente derrotados e postos em xeque por aquela jovem franzina de 19 anos. O povo se inclinava por Joana, movido pelo sentimentalismo Até o ponto de que as sessões deixaram de ser públicas, passaram a celebrar-se a porta fechada”.
O Rei, aquele que Joana tirou do esquecimento arrancando-o da servidão dos inglese, guarda silêncio. Um medíocre e pusilânime carente não apenas de caráter mas do mínimo agradecimento. E somente pedirá anos mais tarde a revisão do processo -a reabilitação de Joana- porque lhe era conveniente para seus planos políticos. “Ter sido levado ate o trono e ser coroado com a ajuda de uma feiticeira não era tema para constar no seu currículo miserável”.
A tertúlia literária destila comentários de enorme sustância. Somente estando lá para ver, sentir, e contemplar, como o cavalheiro de Conte em permanente surpresa perante as atitudes de Joana. Um tema, deve-se anotar, foi recorrente. O que é ter uma missão? Todos temos uma, ou somente gente especial? E, não será que é a missão -a de cada um- a que nos faz enxergar as coisas em perspectiva diferente? E, como andamos de ouvido atento para escutar as vozes -muito menos espetaculares que as que Joana ouvia, mas nem por isso menos reais- que nos sugerem a missão que temos na vida? Houve quem levantou a importância das adversidades para descobrir a missão. Vida fácil sem lombadas, oculta a missão. Ela emerge nas dificuldades. Não são tropeços mas degraus para subir e enxergar mais alto.
Enquanto escutava semelhantes comentários passaram pela minha memória aqueles letreiros que, com alguma frequência, lemos ao adentrar-nos numa empresa, num hospital, numa universidade: missão e visão. E senti o contraste imenso entre esses dizeres comuns que já ninguém consegue ler até o final, muito menos parar e pensar no significado, e as contundentes atitudes de donzela de Orleans, aqui ressaltadas pelos participantes da tertúlia.
Em Rouen, o lugar onde Joana foi queimada, há um monumento , simples e sóbrio, que recolhe as palavras de um intelectual francês com ocasião de uma homenagem à heroína, hoje santa. « O Jeanne sans sépulcre et sans portrait, toi qui savais que le tombeau des héros est le cœur des vivants (André Malraux) ». O legado dos heróis é aquele que figura na memória e no coração dos que, emulados pelo seu exemplo, tentamos chegar perto deles, melhorar a cada dia, afinar ou ouvido para escutar a missão que nos cabe no quotidiano.
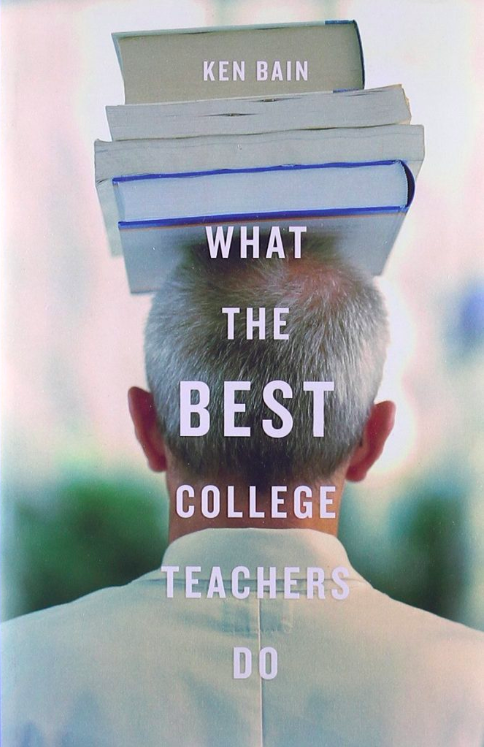


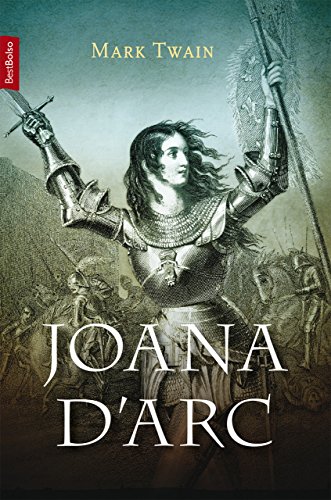


 No dia 24 de julho, a Ordem dos Ministros de Enfermos, os Camilianos, perdeu o Superior Geral em exercício. A Bioética brasileira perdeu uma das figuras mais proeminentes das últimas décadas. E eu perdi um grande amigo. Uma amizade de quase 40 anos, que teve início na década de 80, quando o padre Leocir Pessini iniciava sua caminhada como capelão do Hospital das Clínicas enquanto eu era um médico recém-formado. Brincávamos entre nós, os recém-graduados, que eu era o R1 (em referência ao primeiro ano de residência médica) e ele era o P1, porque acabava de se ordenar sacerdote.
No dia 24 de julho, a Ordem dos Ministros de Enfermos, os Camilianos, perdeu o Superior Geral em exercício. A Bioética brasileira perdeu uma das figuras mais proeminentes das últimas décadas. E eu perdi um grande amigo. Uma amizade de quase 40 anos, que teve início na década de 80, quando o padre Leocir Pessini iniciava sua caminhada como capelão do Hospital das Clínicas enquanto eu era um médico recém-formado. Brincávamos entre nós, os recém-graduados, que eu era o R1 (em referência ao primeiro ano de residência médica) e ele era o P1, porque acabava de se ordenar sacerdote.