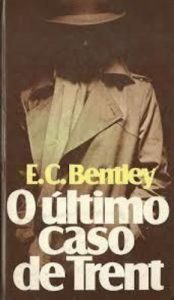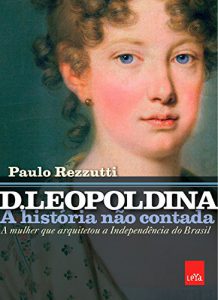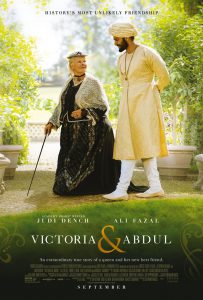Gail Honeyman: “Eleanor Oliphant está muito bem”.
 Gail Honeyman: “Eleanor Oliphant está muito bem”. Fábrica 231. Rio de Janeiro, 2017. 350 págs.
Gail Honeyman: “Eleanor Oliphant está muito bem”. Fábrica 231. Rio de Janeiro, 2017. 350 págs.
Chega a nossa tertúlia literária esta obra debut da escritora escocesa. Algo tinha lido acerca deste romance que apontava ser um ensaio sobre relacionamento, e os mundos diferentes em que todos andamos mergulhados e nem sempre conseguimos enxergar.
A protagonista é uma mulher culta, formada em filologia, que trabalha no departamento de contabilidade de uma empresa, atrelada a uma rotina pessoal que ela mesma se impõe. Lembrou-me aquela personagem singular do filme Gênio Indomável, onde o brilhante garoto (Matt Damon) trabalha de faxineiro numa escola, e resolve complicadas equações nos intervalos das aulas… sem ninguém ver. Talento guardado, sem riscos de se expor.
Eleanor é uma versão feminina do gênio indomável. “Ninguém esteve em meu apartamento este ano além de profissionais de serviço; não convidei voluntariamente outro ser humano a atravessar a porta , exceto para ler os medidores. Você acha que isso é impossível, não é? Mas é verdade. Eu existo, não existo? Frequentemente parece que não estou aqui, que sou um produto e minha própria imaginação. Há dias em que me sinto conectada de modo tão leve à Terra que os fios que me prendem ao planeta são filamentos delgados fiados de açúcar. Uma forte lufada e vento poderia me desalojar completamente”.
Eleanor está confortável com a solidão ou, ao menos, sabe que não envolve o risco de relacionar-se com universos desconhecidos. “Algumas pessoas fracas temem a solidão. O que elas não conseguiam entender é que há algo realmente liberador nela; quando você percebe que não precisa de ninguém, pode cuidar de si mesmo. A questão é essa: é melhor cuidar apenas de si mesmo. Você não pode proteger outras pessoas, por mais que se esforce. Você tenta não consegue, e seu mundo desmorona ao seu redor, queima e vira cinzas”.Leia mais