 Traduzir o título original de um filme é uma tentativa de torná-lo palatável para o público ao qual se destina. Essa deve ser a intenção, em todas as culturas. Porém, é impressionante o que uma tradução infeliz do título é capaz de fazer com um filme: pode criar anticorpos “a priori”, indispor as pessoas para assisti-lo, enfim, pode até assassinar a fita. Basta lembrar um dos exemplos mais claros: “A Noviça Rebelde” com que foi batizado-destruído o magnífico musical “The Sound of Music”. O episódio do convento é completamente periférico na trama do filme, além do que a tal noviça –a insuperável Julie Andrews- nada tinha de rebelde, muito pelo contrário.
Traduzir o título original de um filme é uma tentativa de torná-lo palatável para o público ao qual se destina. Essa deve ser a intenção, em todas as culturas. Porém, é impressionante o que uma tradução infeliz do título é capaz de fazer com um filme: pode criar anticorpos “a priori”, indispor as pessoas para assisti-lo, enfim, pode até assassinar a fita. Basta lembrar um dos exemplos mais claros: “A Noviça Rebelde” com que foi batizado-destruído o magnífico musical “The Sound of Music”. O episódio do convento é completamente periférico na trama do filme, além do que a tal noviça –a insuperável Julie Andrews- nada tinha de rebelde, muito pelo contrário.
 Quando notou que o mundo externo não era cor de rosa e teria de enfrentar desafios, tentou desesperadamente encerrar-se no convento. Ainda bem que a Madre Superiora –traquejada na seleção de vocações- fez-lhe ver que as pessoas se enclausuravam não por medo ao mundo, mas por missão de vida. Estas paredes –diz-lhe- não são feitas para albergar os que têm medo de enfrentar o mundo. E a continuação, a magnífica canção “Climb every mountain”, um empurrão fantástico para que a noviça –que não era tal- se decidisse a enfrentar os desafios da sua verdadeira vocação, no mundo. Pessoalmente, sempre tive uma enorme simpatia por essa Madre Superiora, que tem a coragem de colocar cada um no seu lugar: um exemplo, diríamos em linguagem moderna, de coaching eficaz, que facilita o plano de carreira, situando as pessoas diante da missão que lhes corresponde, atenta aos dons que cada um tem. Confesso que já cheguei a pensar se pessoas assim, peritas em coaching vocacional, não seriam uma ajuda inestimável para a academia universitária, na hora de selecionar seus candidatos no vestibular, nas diversas carreiras e, sem dúvida, na medicina que tão de perto me atinge. Pessoas que conseguem medir o que realmente interessa –a vocação- e que teimamos em dizer que não é possível avaliar nem medir. Mas isso já seria outra crônica. E outro filme, não o que nos ocupa.
Quando notou que o mundo externo não era cor de rosa e teria de enfrentar desafios, tentou desesperadamente encerrar-se no convento. Ainda bem que a Madre Superiora –traquejada na seleção de vocações- fez-lhe ver que as pessoas se enclausuravam não por medo ao mundo, mas por missão de vida. Estas paredes –diz-lhe- não são feitas para albergar os que têm medo de enfrentar o mundo. E a continuação, a magnífica canção “Climb every mountain”, um empurrão fantástico para que a noviça –que não era tal- se decidisse a enfrentar os desafios da sua verdadeira vocação, no mundo. Pessoalmente, sempre tive uma enorme simpatia por essa Madre Superiora, que tem a coragem de colocar cada um no seu lugar: um exemplo, diríamos em linguagem moderna, de coaching eficaz, que facilita o plano de carreira, situando as pessoas diante da missão que lhes corresponde, atenta aos dons que cada um tem. Confesso que já cheguei a pensar se pessoas assim, peritas em coaching vocacional, não seriam uma ajuda inestimável para a academia universitária, na hora de selecionar seus candidatos no vestibular, nas diversas carreiras e, sem dúvida, na medicina que tão de perto me atinge. Pessoas que conseguem medir o que realmente interessa –a vocação- e que teimamos em dizer que não é possível avaliar nem medir. Mas isso já seria outra crônica. E outro filme, não o que nos ocupa.
 O Segredo de Beethoven não existe. O que sim existe é alguém que copia –reproduz, passa a limpo- as anotações do compositor que cria a música. Algo razoável quando se repara que não havia fotocopia, nem computador, ou recursos gráficos disponíveis para essa função. Por isso, o título original -“Copiando Beethoven”- assinado por uma diretora polonesa (Agnieszka Holland) que já tem em seu currículo um Jardim Secreto, que continha o segredo do amor que anula o egoísmo. Mas com Beethoven não há segredo nenhum. Tudo é claro, transparente, direto. E muito feminino, na feição do filme, e nos efeitos que o mesmo provoca.
O Segredo de Beethoven não existe. O que sim existe é alguém que copia –reproduz, passa a limpo- as anotações do compositor que cria a música. Algo razoável quando se repara que não havia fotocopia, nem computador, ou recursos gráficos disponíveis para essa função. Por isso, o título original -“Copiando Beethoven”- assinado por uma diretora polonesa (Agnieszka Holland) que já tem em seu currículo um Jardim Secreto, que continha o segredo do amor que anula o egoísmo. Mas com Beethoven não há segredo nenhum. Tudo é claro, transparente, direto. E muito feminino, na feição do filme, e nos efeitos que o mesmo provoca.
A jovem Anna Holtz, notável estudante do conservatório é enviada para ajudar o Maestro e copiar suas partituras. Beethoven, que tem uma merecida reputação de monstro, não tolera receber uma mulher de 24 anos para ajudá-lo, uma principiante delicada e tímida, que mora num convento de freiras. O choque é inevitável, Anna não se encolhe, demonstra sua competência, conquista o Maestro que, com o tempo não consegue prescindir dela. Cria-se um amor possessivo, peculiar, entre o professor e a discípula, que rende uma sinfonia de cenas encantadoras, onde a evocação de A Bela e a Besta se impõe. Beethoven envolve Anna com a música, que Anna entende e chega a ouvi-la tal como o Maestro a escuta. O amor gera ciúmes, reações violentas do músico, mas a postura elegante, discreta, eficaz – tremendamente feminina!!!- da jovem, dobra o orgulho do Maestro, que se ajoelha e chora como criança, soluçando pelo colo da mãe. Mais detalhes somente vendo. O excesso de descrição acabaria por embaçar a beleza do contexto. Vale dizer que a interpretação das personagens é magnífica. Anna é tudo o que vemos, ou o que queremos sonhar que fosse. E Beethoven, é um Ed Harris, que desapareceu, e nem lembramos quem seria o ator, tal a força da personagem e a maestria interpretativa.
 O tal segredo que não existe rendeu variedade de opiniões entre o público. Algo parecido ao comentário dos críticos de touradas –para os que as apreciam, é claro- quando o público não é unânime na hora de julgar. Diz-se, no argot das touradas, que houve “divisão de opiniões”. Com Beethoven, o filme e o segredo aconteceu algo semelhante. De um lado, houve quem criticou o filme, porque não era histórico, e porque Beethoven era mostrado como um energúmeno. E com isso, e os anticorpos gerados pelo segredo, houve quem chegou a desaconselhá-lo como inconveniente. Por outro lado –e daqui a minha perplexidade e o fazer questão de comentar este filme- recebo a notícia de que duas senhoras da minha família, octogenárias, dessas que não vão ao cinema “por que é uma vergonha as coisas que se mostram, e não é mais como antigamente” são convidadas para uma sessão e saem do filme encantadas, iluminadas. Fosse pouco, uma colega, médica e professora, diz-me que depois de ver o filme, decide levar no fim de semana seguinte à mãe viúva, e algumas amigas dela –da mãe, se entende. Imagino que no carro –como dizia outro amigo também octogenário, já falecido- juntaram-se mais de 300 anos, para assistir Anna Holtz copiando Beethoven, com sucesso total, empolgando as boas senhoras. Por que –pergunto-me- esta variedade de reações, esta divisão de opiniões?
O tal segredo que não existe rendeu variedade de opiniões entre o público. Algo parecido ao comentário dos críticos de touradas –para os que as apreciam, é claro- quando o público não é unânime na hora de julgar. Diz-se, no argot das touradas, que houve “divisão de opiniões”. Com Beethoven, o filme e o segredo aconteceu algo semelhante. De um lado, houve quem criticou o filme, porque não era histórico, e porque Beethoven era mostrado como um energúmeno. E com isso, e os anticorpos gerados pelo segredo, houve quem chegou a desaconselhá-lo como inconveniente. Por outro lado –e daqui a minha perplexidade e o fazer questão de comentar este filme- recebo a notícia de que duas senhoras da minha família, octogenárias, dessas que não vão ao cinema “por que é uma vergonha as coisas que se mostram, e não é mais como antigamente” são convidadas para uma sessão e saem do filme encantadas, iluminadas. Fosse pouco, uma colega, médica e professora, diz-me que depois de ver o filme, decide levar no fim de semana seguinte à mãe viúva, e algumas amigas dela –da mãe, se entende. Imagino que no carro –como dizia outro amigo também octogenário, já falecido- juntaram-se mais de 300 anos, para assistir Anna Holtz copiando Beethoven, com sucesso total, empolgando as boas senhoras. Por que –pergunto-me- esta variedade de reações, esta divisão de opiniões?
 Um amigo músico, afirma que a personagem de Anna Holtz é fictícia. Provavelmente não existiu, ao menos como o filme a retrata. Mas o que é ficção mistura-se com a realidade. Beethoven era mesmo um temperamento intratável – por difícil que seja admitir isto de alguém que conseguiu criar o que ele fez- não brilhava pela sua ordem, e parece que a higiene não era o seu ponto forte. Há quem diga que passava os invernos embrulhado num cobertor…..compondo, naturalmente. Que o Maestro foi se tornando surdo e provavelmente não ouviu as notas da sua Nona Sinfonia é também fato. E como se arranjou para reger a Nona –se a cena que encantou todas as senhoras, Anna regendo nos bastidores, não existiu- é algo que os entendidos poderão elucidar. De qualquer forma, um filme é um ensaio de arte, e não uma aula de historia. E misturar ficção com realidade não é exclusivo deste filme; é, sim, algo extremamente comum. Por que, então, as críticas dos puristas? Vai ver que o que é de fato histórico – o mau caráter de Beethoven – incomoda, ou até decepciona e se prefere colocar tudo por conta da imaginação da diretora. Afinal, por colocar um exemplo, uma coisa é reputar como falsa a personagem de Aquiles em Tróia que é um monumento à vaidade, e mais parece um modelo de Armani do que um herói, e outra ter que admitir que um gênio como Beethoven possa ter sido intratável de fato.
Um amigo músico, afirma que a personagem de Anna Holtz é fictícia. Provavelmente não existiu, ao menos como o filme a retrata. Mas o que é ficção mistura-se com a realidade. Beethoven era mesmo um temperamento intratável – por difícil que seja admitir isto de alguém que conseguiu criar o que ele fez- não brilhava pela sua ordem, e parece que a higiene não era o seu ponto forte. Há quem diga que passava os invernos embrulhado num cobertor…..compondo, naturalmente. Que o Maestro foi se tornando surdo e provavelmente não ouviu as notas da sua Nona Sinfonia é também fato. E como se arranjou para reger a Nona –se a cena que encantou todas as senhoras, Anna regendo nos bastidores, não existiu- é algo que os entendidos poderão elucidar. De qualquer forma, um filme é um ensaio de arte, e não uma aula de historia. E misturar ficção com realidade não é exclusivo deste filme; é, sim, algo extremamente comum. Por que, então, as críticas dos puristas? Vai ver que o que é de fato histórico – o mau caráter de Beethoven – incomoda, ou até decepciona e se prefere colocar tudo por conta da imaginação da diretora. Afinal, por colocar um exemplo, uma coisa é reputar como falsa a personagem de Aquiles em Tróia que é um monumento à vaidade, e mais parece um modelo de Armani do que um herói, e outra ter que admitir que um gênio como Beethoven possa ter sido intratável de fato.  As críticas de alguns misturado com os elogios das senhoras octogenárias me confortam. Sempre penso que estaslinhas, onde interpreto livremente as idéias que os filmes me provocam, não são uma tentativa de explicar o que o diretor quer dizer, uma tradução à linguagem popular os termos Cult do cinema. São, nem mais nem menos, o que me ocorre pensar a propósito do filme, reflexões que o cinema desperta. E como são reflexões em voz alta, escrevem-se para compartilhar com outros que, certamente, terão diferentes pontos de vista, e agregarão novas reflexões. Daí a educação da afetividade que o cinema nos brinda como ocasião única. Por isso, misturar ficção com realidade –como misturamos nossas reflexões com as intenções do diretor do filme- está, para mim, plenamente justificado.
As críticas de alguns misturado com os elogios das senhoras octogenárias me confortam. Sempre penso que estaslinhas, onde interpreto livremente as idéias que os filmes me provocam, não são uma tentativa de explicar o que o diretor quer dizer, uma tradução à linguagem popular os termos Cult do cinema. São, nem mais nem menos, o que me ocorre pensar a propósito do filme, reflexões que o cinema desperta. E como são reflexões em voz alta, escrevem-se para compartilhar com outros que, certamente, terão diferentes pontos de vista, e agregarão novas reflexões. Daí a educação da afetividade que o cinema nos brinda como ocasião única. Por isso, misturar ficção com realidade –como misturamos nossas reflexões com as intenções do diretor do filme- está, para mim, plenamente justificado. O molde e os efeitos do filme têm uma assinatura feminina. Têm poesia, beleza, sonhos que traduzem anseios de realidade. O conjunto agrada como o perfume da flor. A imagem não é minha, mas de Ortega que nos oferece nos seus Estudos sobre o Amor, um dos mais belos ensaios sobre o feminismo. A mulher, diz, muda o ambiente, quieta, sem aparentemente fazer nada, como o clima muda o vegetal, ou a rosa perfuma o entorno. Não faz nada, fazendo-o tudo. E, no mesmo escrito, encontramos uma possível explicação de por que o Maestro não consegue prescindir de Anna, torna-se dependente dela. Afirma o filósofo que uma das supremas missões da mulher é exigir a perfeição no homem, tirar dele o seu melhor. E o homem, que pensa dominar a situação, é dominado –guiado, promovido- pela idéia que e a mulher tem dele, e busca corrigir-se para agradá-la, adequando-se. Um sorriso, ou uma reprovação da mulher, tem efeito formador sobre os homens, que saberão encontrar melhores estilos de vida deste modo. Tudo isto é aquilo que sabemos bem: um homem descuidado –nos modos, no vestir, no estilo- faz-nos suspeitar que careça de uma mulher que lhe coloque na linha.
O molde e os efeitos do filme têm uma assinatura feminina. Têm poesia, beleza, sonhos que traduzem anseios de realidade. O conjunto agrada como o perfume da flor. A imagem não é minha, mas de Ortega que nos oferece nos seus Estudos sobre o Amor, um dos mais belos ensaios sobre o feminismo. A mulher, diz, muda o ambiente, quieta, sem aparentemente fazer nada, como o clima muda o vegetal, ou a rosa perfuma o entorno. Não faz nada, fazendo-o tudo. E, no mesmo escrito, encontramos uma possível explicação de por que o Maestro não consegue prescindir de Anna, torna-se dependente dela. Afirma o filósofo que uma das supremas missões da mulher é exigir a perfeição no homem, tirar dele o seu melhor. E o homem, que pensa dominar a situação, é dominado –guiado, promovido- pela idéia que e a mulher tem dele, e busca corrigir-se para agradá-la, adequando-se. Um sorriso, ou uma reprovação da mulher, tem efeito formador sobre os homens, que saberão encontrar melhores estilos de vida deste modo. Tudo isto é aquilo que sabemos bem: um homem descuidado –nos modos, no vestir, no estilo- faz-nos suspeitar que careça de uma mulher que lhe coloque na linha.  O tema não é novidade, e filósofos e escritores o exploram à vontade. Naill Williams, num delicioso romance irlandês (Quatro Cartas de Amor) afirma que são as mulheres as que criam os maridos. Assim, uma vez dispondo da matéria prima –o rapaz do qual se enamoram- começam os quarenta anos de trabalho constante para fabricar o homem com quem podem viver. Chesterton, com seu humor inigualável diz que a mulher representa a saúde mental no lar, o local onde a mente tem de regressar depois das excursões pelas extravagâncias. E reconhece que para tanto, deve ser uma verdadeira equilibrista, protagonista de um ofício generoso, perigoso e romântico. Voltando ao filme, e à nossa estudante do conservatório que possui estes predicados. Mesmo que Anna Holtz seja fictícia, não o são estas considerações. Talvez por isso a sua figura encante as senhoras octogenárias, perdidamente femininas. Contam que a mãe de Pedro Almodóvar chegou a lhe dizer um dia: “Meu filho, com esses filmes que você faz, eu nem tenho coragem de conversar com as vizinhas”. Talvez isto seja lenda, pura maldade, mas não há como negar que os comentários das mães carregam doses enormes de verdade e de bom senso. Cabe ao Almodóvar ver como facilitar o trabalho da mãe dele, para que se enturme com as amigas. Da minha parte penso que quando a minha mãe e a minha tia, -as damas octogenárias familiares de quem falei- saem do cinema transformadas, não posso menos de recomendar o filme, sem nenhuma restrição, convicto de que, no mínimo, serão momentos deliciosos, de tremendo bom gosto. O Segredo de Beethoven (Copying Beethoven). Dir: Agnieszka Holland. Ed Harris, Diane Kruger, Nicholas Jones. 104m
O tema não é novidade, e filósofos e escritores o exploram à vontade. Naill Williams, num delicioso romance irlandês (Quatro Cartas de Amor) afirma que são as mulheres as que criam os maridos. Assim, uma vez dispondo da matéria prima –o rapaz do qual se enamoram- começam os quarenta anos de trabalho constante para fabricar o homem com quem podem viver. Chesterton, com seu humor inigualável diz que a mulher representa a saúde mental no lar, o local onde a mente tem de regressar depois das excursões pelas extravagâncias. E reconhece que para tanto, deve ser uma verdadeira equilibrista, protagonista de um ofício generoso, perigoso e romântico. Voltando ao filme, e à nossa estudante do conservatório que possui estes predicados. Mesmo que Anna Holtz seja fictícia, não o são estas considerações. Talvez por isso a sua figura encante as senhoras octogenárias, perdidamente femininas. Contam que a mãe de Pedro Almodóvar chegou a lhe dizer um dia: “Meu filho, com esses filmes que você faz, eu nem tenho coragem de conversar com as vizinhas”. Talvez isto seja lenda, pura maldade, mas não há como negar que os comentários das mães carregam doses enormes de verdade e de bom senso. Cabe ao Almodóvar ver como facilitar o trabalho da mãe dele, para que se enturme com as amigas. Da minha parte penso que quando a minha mãe e a minha tia, -as damas octogenárias familiares de quem falei- saem do cinema transformadas, não posso menos de recomendar o filme, sem nenhuma restrição, convicto de que, no mínimo, serão momentos deliciosos, de tremendo bom gosto. O Segredo de Beethoven (Copying Beethoven). Dir: Agnieszka Holland. Ed Harris, Diane Kruger, Nicholas Jones. 104m



 Duas semanas em cartaz e mais de dois milhões de expectadores. Houve quem conseguisse comprar os últimos ingressos – aqueles que dão “direito” à primeira fileira e ficar com o nariz colado à tela – mas preferiu sentar-se lá em cima, no chão do corredor, para não perder o visual da estréia. Muitos jovens, alguns nem tanto, como aquele senhor que comentava entusiasmado na saída: “Você viu isso? Fantástico! Até que o ingresso a dezessete reais é ridículo. Bem que o Brasil precisava de uns quatro ou cinco batmans, principalmente em Brasília. Quem sabe dariam um jeito nessa corrupção que nos envergonha”. Fui reunindo os comentários que me chegavam nos dias que se seguiram ao lançamento do filme. Em todos os lugares, no ambiente profissional, nos hospitais onde trabalho – médicos, pacientes, funcionários – todos tinham Batman na ponta da língua. Lembrei-me de George Lucas, quando lá nos idos de 1976 contemplava a reação do público que tinha acabado de assistir a estreia de “Guerra nas Estrelas”. Parece que estava num bar, sentado, à frente do cinema. Vendo a multidão que saia vibrando, confirmou o que já desconfiava: as pessoas gostam de ver o bem e o mal convenientemente delimitados. “É como um faroeste, só que nas galáxias” – declarou à imprensa, na época. “A verdade é que todos nós gostamos que o mocinho ganhe.
Duas semanas em cartaz e mais de dois milhões de expectadores. Houve quem conseguisse comprar os últimos ingressos – aqueles que dão “direito” à primeira fileira e ficar com o nariz colado à tela – mas preferiu sentar-se lá em cima, no chão do corredor, para não perder o visual da estréia. Muitos jovens, alguns nem tanto, como aquele senhor que comentava entusiasmado na saída: “Você viu isso? Fantástico! Até que o ingresso a dezessete reais é ridículo. Bem que o Brasil precisava de uns quatro ou cinco batmans, principalmente em Brasília. Quem sabe dariam um jeito nessa corrupção que nos envergonha”. Fui reunindo os comentários que me chegavam nos dias que se seguiram ao lançamento do filme. Em todos os lugares, no ambiente profissional, nos hospitais onde trabalho – médicos, pacientes, funcionários – todos tinham Batman na ponta da língua. Lembrei-me de George Lucas, quando lá nos idos de 1976 contemplava a reação do público que tinha acabado de assistir a estreia de “Guerra nas Estrelas”. Parece que estava num bar, sentado, à frente do cinema. Vendo a multidão que saia vibrando, confirmou o que já desconfiava: as pessoas gostam de ver o bem e o mal convenientemente delimitados. “É como um faroeste, só que nas galáxias” – declarou à imprensa, na época. “A verdade é que todos nós gostamos que o mocinho ganhe.  Cinderella Man. Diretor: Ron Howard. Atores: Russell Crowe, Renée Zellweger, Paul Giamatti. 144 minutos. Assisti a este filme já faz algum tempo. Provavelmente, um par de anos atrás. Mas nos últimos meses, por algum motivo, ele me veio à mente com insistência. Acudiam à lembrança as cenas do filme, sobretudo o título – a esperança –, que bem vale uma luta. A história lembra os filmes dos anos 30-40, aqueles que Frank Capra dirigia com seu otimismo à prova de bomba, empurrando os americanos a acreditarem no seu próprio país. Anos de depressão econômica, seguidos de guerras. O nosso filme situa-se exatamente nessa mesma época. Jim Braddock – encarnado no polivalente ator Russell Crowe – é um boxeador com futuro. Estamos no final da década de 20. Escasseiam os alimentos, também as lutas, e o nosso lutador, para sobreviver, parte para os “bicos” mal pagos das docas. O ambiente é o de sempre. Lembram-se de Marlon Brando, em “Sindicato de Ladrões”, com aquele olhar tímido? É o mesmo entorno, só que desta vez em cores. Surge uma chance, e Jim volta a lutar, porque não lhe resta outro remédio: “Agora eu sei pelo que estou lutando” – declara na roda de imprensa. “Por quê?” – pergunta um jornalista. “Leite!” – responde Jim. Luta para ganhar o sustento dos seus. Mas como sabe lutar, ama sua profissão e pensa na família. O que era obrigação transformar-se em oportunidade, e vai galgando postos até enfrentar o campeão mundial dos pesos pesados. O homem que surge de baixo, do povo, o maltrapilho de New Jersey, mostra a seus iguais – ao povo que tenta sobrevier na miséria – uma luz no fim do túnel, uma verdadeira porta para a esperança: “Se Jim Braddock consegue, talvez nós tenhamos também uma chance na vida” – parecem dizer os que por ele torcem. A imprensa faz-se eco dessas expectativas e começa a apelidá-lo “Cinderella Man” (o homem-cinderela) – título do filme em inglês.
Cinderella Man. Diretor: Ron Howard. Atores: Russell Crowe, Renée Zellweger, Paul Giamatti. 144 minutos. Assisti a este filme já faz algum tempo. Provavelmente, um par de anos atrás. Mas nos últimos meses, por algum motivo, ele me veio à mente com insistência. Acudiam à lembrança as cenas do filme, sobretudo o título – a esperança –, que bem vale uma luta. A história lembra os filmes dos anos 30-40, aqueles que Frank Capra dirigia com seu otimismo à prova de bomba, empurrando os americanos a acreditarem no seu próprio país. Anos de depressão econômica, seguidos de guerras. O nosso filme situa-se exatamente nessa mesma época. Jim Braddock – encarnado no polivalente ator Russell Crowe – é um boxeador com futuro. Estamos no final da década de 20. Escasseiam os alimentos, também as lutas, e o nosso lutador, para sobreviver, parte para os “bicos” mal pagos das docas. O ambiente é o de sempre. Lembram-se de Marlon Brando, em “Sindicato de Ladrões”, com aquele olhar tímido? É o mesmo entorno, só que desta vez em cores. Surge uma chance, e Jim volta a lutar, porque não lhe resta outro remédio: “Agora eu sei pelo que estou lutando” – declara na roda de imprensa. “Por quê?” – pergunta um jornalista. “Leite!” – responde Jim. Luta para ganhar o sustento dos seus. Mas como sabe lutar, ama sua profissão e pensa na família. O que era obrigação transformar-se em oportunidade, e vai galgando postos até enfrentar o campeão mundial dos pesos pesados. O homem que surge de baixo, do povo, o maltrapilho de New Jersey, mostra a seus iguais – ao povo que tenta sobrevier na miséria – uma luz no fim do túnel, uma verdadeira porta para a esperança: “Se Jim Braddock consegue, talvez nós tenhamos também uma chance na vida” – parecem dizer os que por ele torcem. A imprensa faz-se eco dessas expectativas e começa a apelidá-lo “Cinderella Man” (o homem-cinderela) – título do filme em inglês. Devo confessar que já faz algum tempo que assisti a este filme.
Devo confessar que já faz algum tempo que assisti a este filme.
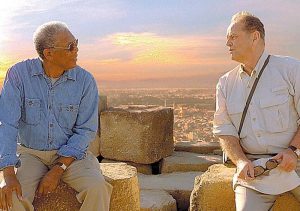 ”Antes de partir” é o título em português da lista de pendências que os dois protagonistas querem completar numa corrida contra o “relógio” do câncer que vai tomando conta do seu organismo. Quais são as coisas importantes na vida, as que não posso deixar de fazer? Eis uma excelente colocação que serve para quase tudo: decidir e fazer o que não pode deixar de ser feito, sem distrair-se – e depois desesperar-se – com o que poderia ser feito. A vida é um leque de possibilidades, e a escolha de uma excluirá possivelmente as outras. A figura do leque de possibilidades associa-se na minha mente ao filósofo dinamarquês Kierkegaard, desde os tempos das aulas de filosofia no colegial. Bons tempos aqueles, em que se estudava filosofia com 15 anos. Não estou certo de que aprendêssemos grandes teorias, mas ao menos tomávamos conhecimento de que existiam pessoas cujo ofício era pensar, questionar-se. Mesmo que, como Kierkegaard, sofressem por isso. Hoje, temos muito que fazer e não podemos dar-nos o luxo de pensar, muito menos de nos questionar. Vai ver que de repente descobrimos que não sabemos porque fazemos as coisas, ou porque fazemos sempre o que não é importante, e ignoramos o essencial. No dia em que essa ficha vier a cair a angústia será tremenda, como a do Schmidt, e o sofrimento dos filósofos existencialistas – que ao menos tiveram a coragem de pensar no assunto – será “café pequeno” comparada à do insensato que passou a vida em piloto automático. Não temos tempo – dizemos – e quase nos convencemos. A pressa é tanta, que não paramos para colocar gasolina no carro… e fatalmente o carro ficará no acostamento, cedo ou tarde.
”Antes de partir” é o título em português da lista de pendências que os dois protagonistas querem completar numa corrida contra o “relógio” do câncer que vai tomando conta do seu organismo. Quais são as coisas importantes na vida, as que não posso deixar de fazer? Eis uma excelente colocação que serve para quase tudo: decidir e fazer o que não pode deixar de ser feito, sem distrair-se – e depois desesperar-se – com o que poderia ser feito. A vida é um leque de possibilidades, e a escolha de uma excluirá possivelmente as outras. A figura do leque de possibilidades associa-se na minha mente ao filósofo dinamarquês Kierkegaard, desde os tempos das aulas de filosofia no colegial. Bons tempos aqueles, em que se estudava filosofia com 15 anos. Não estou certo de que aprendêssemos grandes teorias, mas ao menos tomávamos conhecimento de que existiam pessoas cujo ofício era pensar, questionar-se. Mesmo que, como Kierkegaard, sofressem por isso. Hoje, temos muito que fazer e não podemos dar-nos o luxo de pensar, muito menos de nos questionar. Vai ver que de repente descobrimos que não sabemos porque fazemos as coisas, ou porque fazemos sempre o que não é importante, e ignoramos o essencial. No dia em que essa ficha vier a cair a angústia será tremenda, como a do Schmidt, e o sofrimento dos filósofos existencialistas – que ao menos tiveram a coragem de pensar no assunto – será “café pequeno” comparada à do insensato que passou a vida em piloto automático. Não temos tempo – dizemos – e quase nos convencemos. A pressa é tanta, que não paramos para colocar gasolina no carro… e fatalmente o carro ficará no acostamento, cedo ou tarde.  Tenho uma velha dívida com este filme. Assisti e gostei. Recomendei aos amigos, aos alunos e colegas. Mesmo aos pacientes que, sabedores do meu gosto cinematográfico solicitam, junto com prescrição de remédios, alguma medicação para o bom uso do tempo livre, para espraiar-se com fruto, para não perder o gosto por sonhar, que é uma das piores doenças que hoje nos cerca. Doença fatal que mata mesmo: liquida o indivíduo aos poucos, sugando-lhe a esperança, prostrando-o numa verdadeira caquexia de ideais. A minha dívida com Peter Weir –o diretor do filme- aumenta quando me lembro que utilizei diversas cenas de “Master and Commander” para ilustrar minhas aulas, para provocar descaradamente a reflexão. E também para produzir as crises que o pensar origina. Um velho amigo, colega no colégio e hoje diretor de cinema, me disse certa vez: “Tu montas o teu filme com as cenas dos outros; fazes uma colcha de retalhos com os fotogramas que alguém produziu para dar o teu recado”. Tinha toda a razão. Por isso a minha dívida aumenta. Bem é verdade que tenho algum crédito com Peter Weir, pela propaganda enorme que fiz do seu show de Truman, e da Sociedade dos Poetas Mortos. São versões diferentes de um tema apaixonante e duro ao mesmo tempo: a solidão do líder. O inovador, aquele que comanda a mudança para novos paradigmas, chega um momento em que se sente sozinho. Esse é o tema, embrulhado num filme de aventuras –com piratas, abordagem de navios, canhões e tempestades- situado no início do século XIX. Russell Crowe é o capitão Jack Aubrey, comandante do navio britânico Surprise, que persegue o Acheron, barco emblemático da frota Napoleônica. Paul Bettany é o Dr. Stephen Maturin, um médico culto, naturalista, que combina a perfeição a ciência e o humanismo. A mesma dupla de “Mente Brilhante” nos oferece aqui um magnífico mano a mano repleto de valores. Reflexões nos momentos difíceis, diálogos espirituosos, desavenças, crises, amizade verdadeira. E música: encantadores duetos ao anoitecer, na cabine do comandante que toca violino, e o contraponto do médico com seu violoncelo. Para liderar, e também para clinicar, é preciso freqüentar as artes, entender o ser humano na sua expressão mais genuína, permitir-se conviver com as próprias emoções. Afinal, liderança e medicina, são também artes que devem ser construídas.
Tenho uma velha dívida com este filme. Assisti e gostei. Recomendei aos amigos, aos alunos e colegas. Mesmo aos pacientes que, sabedores do meu gosto cinematográfico solicitam, junto com prescrição de remédios, alguma medicação para o bom uso do tempo livre, para espraiar-se com fruto, para não perder o gosto por sonhar, que é uma das piores doenças que hoje nos cerca. Doença fatal que mata mesmo: liquida o indivíduo aos poucos, sugando-lhe a esperança, prostrando-o numa verdadeira caquexia de ideais. A minha dívida com Peter Weir –o diretor do filme- aumenta quando me lembro que utilizei diversas cenas de “Master and Commander” para ilustrar minhas aulas, para provocar descaradamente a reflexão. E também para produzir as crises que o pensar origina. Um velho amigo, colega no colégio e hoje diretor de cinema, me disse certa vez: “Tu montas o teu filme com as cenas dos outros; fazes uma colcha de retalhos com os fotogramas que alguém produziu para dar o teu recado”. Tinha toda a razão. Por isso a minha dívida aumenta. Bem é verdade que tenho algum crédito com Peter Weir, pela propaganda enorme que fiz do seu show de Truman, e da Sociedade dos Poetas Mortos. São versões diferentes de um tema apaixonante e duro ao mesmo tempo: a solidão do líder. O inovador, aquele que comanda a mudança para novos paradigmas, chega um momento em que se sente sozinho. Esse é o tema, embrulhado num filme de aventuras –com piratas, abordagem de navios, canhões e tempestades- situado no início do século XIX. Russell Crowe é o capitão Jack Aubrey, comandante do navio britânico Surprise, que persegue o Acheron, barco emblemático da frota Napoleônica. Paul Bettany é o Dr. Stephen Maturin, um médico culto, naturalista, que combina a perfeição a ciência e o humanismo. A mesma dupla de “Mente Brilhante” nos oferece aqui um magnífico mano a mano repleto de valores. Reflexões nos momentos difíceis, diálogos espirituosos, desavenças, crises, amizade verdadeira. E música: encantadores duetos ao anoitecer, na cabine do comandante que toca violino, e o contraponto do médico com seu violoncelo. Para liderar, e também para clinicar, é preciso freqüentar as artes, entender o ser humano na sua expressão mais genuína, permitir-se conviver com as próprias emoções. Afinal, liderança e medicina, são também artes que devem ser construídas.  Traduzir o título original de um filme é uma tentativa de torná-lo palatável para o público ao qual se destina. Essa deve ser a intenção, em todas as culturas. Porém, é impressionante o que uma tradução infeliz do título é capaz de fazer com um filme: pode criar anticorpos “a priori”, indispor as pessoas para assisti-lo, enfim, pode até assassinar a fita. Basta lembrar um dos exemplos mais claros: “A Noviça Rebelde” com que foi batizado-destruído o magnífico musical “The Sound of Music”. O episódio do convento é completamente periférico na trama do filme, além do que a tal noviça –a insuperável Julie Andrews- nada tinha de rebelde, muito pelo contrário.
Traduzir o título original de um filme é uma tentativa de torná-lo palatável para o público ao qual se destina. Essa deve ser a intenção, em todas as culturas. Porém, é impressionante o que uma tradução infeliz do título é capaz de fazer com um filme: pode criar anticorpos “a priori”, indispor as pessoas para assisti-lo, enfim, pode até assassinar a fita. Basta lembrar um dos exemplos mais claros: “A Noviça Rebelde” com que foi batizado-destruído o magnífico musical “The Sound of Music”. O episódio do convento é completamente periférico na trama do filme, além do que a tal noviça –a insuperável Julie Andrews- nada tinha de rebelde, muito pelo contrário. Quando notou que o mundo externo não era cor de rosa e teria de enfrentar desafios, tentou desesperadamente encerrar-se no convento. Ainda bem que a Madre Superiora –traquejada na seleção de vocações- fez-lhe ver que as pessoas se enclausuravam não por medo ao mundo, mas por missão de vida. Estas paredes –diz-lhe- não são feitas para albergar os que têm medo de enfrentar o mundo. E a continuação, a magnífica canção “Climb every mountain”, um empurrão fantástico para que a noviça –que não era tal- se decidisse a enfrentar os desafios da sua verdadeira vocação, no mundo. Pessoalmente, sempre tive uma enorme simpatia por essa Madre Superiora, que tem a coragem de colocar cada um no seu lugar: um exemplo, diríamos em linguagem moderna, de coaching eficaz, que facilita o plano de carreira, situando as pessoas diante da missão que lhes corresponde, atenta aos dons que cada um tem. Confesso que já cheguei a pensar se pessoas assim, peritas em coaching vocacional, não seriam uma ajuda inestimável para a academia universitária, na hora de selecionar seus candidatos no vestibular, nas diversas carreiras e, sem dúvida, na medicina que tão de perto me atinge. Pessoas que conseguem medir o que realmente interessa –a vocação- e que teimamos em dizer que não é possível avaliar nem medir. Mas isso já seria outra crônica. E outro filme, não o que nos ocupa.
Quando notou que o mundo externo não era cor de rosa e teria de enfrentar desafios, tentou desesperadamente encerrar-se no convento. Ainda bem que a Madre Superiora –traquejada na seleção de vocações- fez-lhe ver que as pessoas se enclausuravam não por medo ao mundo, mas por missão de vida. Estas paredes –diz-lhe- não são feitas para albergar os que têm medo de enfrentar o mundo. E a continuação, a magnífica canção “Climb every mountain”, um empurrão fantástico para que a noviça –que não era tal- se decidisse a enfrentar os desafios da sua verdadeira vocação, no mundo. Pessoalmente, sempre tive uma enorme simpatia por essa Madre Superiora, que tem a coragem de colocar cada um no seu lugar: um exemplo, diríamos em linguagem moderna, de coaching eficaz, que facilita o plano de carreira, situando as pessoas diante da missão que lhes corresponde, atenta aos dons que cada um tem. Confesso que já cheguei a pensar se pessoas assim, peritas em coaching vocacional, não seriam uma ajuda inestimável para a academia universitária, na hora de selecionar seus candidatos no vestibular, nas diversas carreiras e, sem dúvida, na medicina que tão de perto me atinge. Pessoas que conseguem medir o que realmente interessa –a vocação- e que teimamos em dizer que não é possível avaliar nem medir. Mas isso já seria outra crônica. E outro filme, não o que nos ocupa. O Segredo de Beethoven não existe. O que sim existe é alguém que copia –reproduz, passa a limpo- as anotações do compositor que cria a música. Algo razoável quando se repara que não havia fotocopia, nem computador, ou recursos gráficos disponíveis para essa função. Por isso, o título original -“Copiando Beethoven”- assinado por uma diretora polonesa (Agnieszka Holland) que já tem em seu currículo um Jardim Secreto, que continha o segredo do amor que anula o egoísmo. Mas com Beethoven não há segredo nenhum. Tudo é claro, transparente, direto. E muito feminino, na feição do filme, e nos efeitos que o mesmo provoca.
O Segredo de Beethoven não existe. O que sim existe é alguém que copia –reproduz, passa a limpo- as anotações do compositor que cria a música. Algo razoável quando se repara que não havia fotocopia, nem computador, ou recursos gráficos disponíveis para essa função. Por isso, o título original -“Copiando Beethoven”- assinado por uma diretora polonesa (Agnieszka Holland) que já tem em seu currículo um Jardim Secreto, que continha o segredo do amor que anula o egoísmo. Mas com Beethoven não há segredo nenhum. Tudo é claro, transparente, direto. E muito feminino, na feição do filme, e nos efeitos que o mesmo provoca.
 O tal segredo que não existe rendeu variedade de opiniões entre o público. Algo parecido ao comentário dos críticos de touradas –para os que as apreciam, é claro- quando o público não é unânime na hora de julgar. Diz-se, no argot das touradas, que houve “divisão de opiniões”. Com Beethoven, o filme e o segredo aconteceu algo semelhante. De um lado, houve quem criticou o filme, porque não era histórico, e porque Beethoven era mostrado como um energúmeno. E com isso, e os anticorpos gerados pelo segredo, houve quem chegou a desaconselhá-lo como inconveniente. Por outro lado –e daqui a minha perplexidade e o fazer questão de comentar este filme- recebo a notícia de que duas senhoras da minha família, octogenárias, dessas que não vão ao cinema “por que é uma vergonha as coisas que se mostram, e não é mais como antigamente” são convidadas para uma sessão e saem do filme encantadas, iluminadas. Fosse pouco, uma colega, médica e professora, diz-me que depois de ver o filme, decide levar no fim de semana seguinte à mãe viúva, e algumas amigas dela –da mãe, se entende. Imagino que no carro –como dizia outro amigo também octogenário, já falecido- juntaram-se mais de 300 anos, para assistir Anna Holtz copiando Beethoven, com sucesso total, empolgando as boas senhoras. Por que –pergunto-me- esta variedade de reações, esta divisão de opiniões?
O tal segredo que não existe rendeu variedade de opiniões entre o público. Algo parecido ao comentário dos críticos de touradas –para os que as apreciam, é claro- quando o público não é unânime na hora de julgar. Diz-se, no argot das touradas, que houve “divisão de opiniões”. Com Beethoven, o filme e o segredo aconteceu algo semelhante. De um lado, houve quem criticou o filme, porque não era histórico, e porque Beethoven era mostrado como um energúmeno. E com isso, e os anticorpos gerados pelo segredo, houve quem chegou a desaconselhá-lo como inconveniente. Por outro lado –e daqui a minha perplexidade e o fazer questão de comentar este filme- recebo a notícia de que duas senhoras da minha família, octogenárias, dessas que não vão ao cinema “por que é uma vergonha as coisas que se mostram, e não é mais como antigamente” são convidadas para uma sessão e saem do filme encantadas, iluminadas. Fosse pouco, uma colega, médica e professora, diz-me que depois de ver o filme, decide levar no fim de semana seguinte à mãe viúva, e algumas amigas dela –da mãe, se entende. Imagino que no carro –como dizia outro amigo também octogenário, já falecido- juntaram-se mais de 300 anos, para assistir Anna Holtz copiando Beethoven, com sucesso total, empolgando as boas senhoras. Por que –pergunto-me- esta variedade de reações, esta divisão de opiniões? Um amigo músico, afirma que a personagem de Anna Holtz é fictícia. Provavelmente não existiu, ao menos como o filme a retrata. Mas o que é ficção mistura-se com a realidade. Beethoven era mesmo um temperamento intratável – por difícil que seja admitir isto de alguém que conseguiu criar o que ele fez- não brilhava pela sua ordem, e parece que a higiene não era o seu ponto forte. Há quem diga que passava os invernos embrulhado num cobertor…..compondo, naturalmente. Que o Maestro foi se tornando surdo e provavelmente não ouviu as notas da sua Nona Sinfonia é também fato. E como se arranjou para reger a Nona –se a cena que encantou todas as senhoras, Anna regendo nos bastidores, não existiu- é algo que os entendidos poderão elucidar. De qualquer forma, um filme é um ensaio de arte, e não uma aula de historia. E misturar ficção com realidade não é exclusivo deste filme; é, sim, algo extremamente comum. Por que, então, as críticas dos puristas? Vai ver que o que é de fato histórico – o mau caráter de Beethoven – incomoda, ou até decepciona e se prefere colocar tudo por conta da imaginação da diretora. Afinal, por colocar um exemplo, uma coisa é reputar como falsa a personagem de Aquiles em Tróia que é um monumento à vaidade, e mais parece um modelo de Armani do que um herói, e outra ter que admitir que um gênio como Beethoven possa ter sido intratável de fato.
Um amigo músico, afirma que a personagem de Anna Holtz é fictícia. Provavelmente não existiu, ao menos como o filme a retrata. Mas o que é ficção mistura-se com a realidade. Beethoven era mesmo um temperamento intratável – por difícil que seja admitir isto de alguém que conseguiu criar o que ele fez- não brilhava pela sua ordem, e parece que a higiene não era o seu ponto forte. Há quem diga que passava os invernos embrulhado num cobertor…..compondo, naturalmente. Que o Maestro foi se tornando surdo e provavelmente não ouviu as notas da sua Nona Sinfonia é também fato. E como se arranjou para reger a Nona –se a cena que encantou todas as senhoras, Anna regendo nos bastidores, não existiu- é algo que os entendidos poderão elucidar. De qualquer forma, um filme é um ensaio de arte, e não uma aula de historia. E misturar ficção com realidade não é exclusivo deste filme; é, sim, algo extremamente comum. Por que, então, as críticas dos puristas? Vai ver que o que é de fato histórico – o mau caráter de Beethoven – incomoda, ou até decepciona e se prefere colocar tudo por conta da imaginação da diretora. Afinal, por colocar um exemplo, uma coisa é reputar como falsa a personagem de Aquiles em Tróia que é um monumento à vaidade, e mais parece um modelo de Armani do que um herói, e outra ter que admitir que um gênio como Beethoven possa ter sido intratável de fato.  As críticas de alguns misturado com os elogios das senhoras octogenárias me confortam. Sempre penso que estaslinhas, onde interpreto livremente as idéias que os filmes me provocam, não são uma tentativa de explicar o que o diretor quer dizer, uma tradução à linguagem popular os termos Cult do cinema. São, nem mais nem menos, o que me ocorre pensar a propósito do filme, reflexões que o cinema desperta. E como são reflexões em voz alta, escrevem-se para compartilhar com outros que, certamente, terão diferentes pontos de vista, e agregarão novas reflexões. Daí a educação da afetividade que o cinema nos brinda como ocasião única. Por isso, misturar ficção com realidade –como misturamos nossas reflexões com as intenções do diretor do filme- está, para mim, plenamente justificado.
As críticas de alguns misturado com os elogios das senhoras octogenárias me confortam. Sempre penso que estaslinhas, onde interpreto livremente as idéias que os filmes me provocam, não são uma tentativa de explicar o que o diretor quer dizer, uma tradução à linguagem popular os termos Cult do cinema. São, nem mais nem menos, o que me ocorre pensar a propósito do filme, reflexões que o cinema desperta. E como são reflexões em voz alta, escrevem-se para compartilhar com outros que, certamente, terão diferentes pontos de vista, e agregarão novas reflexões. Daí a educação da afetividade que o cinema nos brinda como ocasião única. Por isso, misturar ficção com realidade –como misturamos nossas reflexões com as intenções do diretor do filme- está, para mim, plenamente justificado. O molde e os efeitos do filme têm uma assinatura feminina. Têm poesia, beleza, sonhos que traduzem anseios de realidade. O conjunto agrada como o perfume da flor. A imagem não é minha, mas de Ortega que nos oferece nos seus Estudos sobre o Amor, um dos mais belos ensaios sobre o feminismo. A mulher, diz, muda o ambiente, quieta, sem aparentemente fazer nada, como o clima muda o vegetal, ou a rosa perfuma o entorno. Não faz nada, fazendo-o tudo. E, no mesmo escrito, encontramos uma possível explicação de por que o Maestro não consegue prescindir de Anna, torna-se dependente dela. Afirma o filósofo que uma das supremas missões da mulher é exigir a perfeição no homem, tirar dele o seu melhor. E o homem, que pensa dominar a situação, é dominado –guiado, promovido- pela idéia que e a mulher tem dele, e busca corrigir-se para agradá-la, adequando-se. Um sorriso, ou uma reprovação da mulher, tem efeito formador sobre os homens, que saberão encontrar melhores estilos de vida deste modo. Tudo isto é aquilo que sabemos bem: um homem descuidado –nos modos, no vestir, no estilo- faz-nos suspeitar que careça de uma mulher que lhe coloque na linha.
O molde e os efeitos do filme têm uma assinatura feminina. Têm poesia, beleza, sonhos que traduzem anseios de realidade. O conjunto agrada como o perfume da flor. A imagem não é minha, mas de Ortega que nos oferece nos seus Estudos sobre o Amor, um dos mais belos ensaios sobre o feminismo. A mulher, diz, muda o ambiente, quieta, sem aparentemente fazer nada, como o clima muda o vegetal, ou a rosa perfuma o entorno. Não faz nada, fazendo-o tudo. E, no mesmo escrito, encontramos uma possível explicação de por que o Maestro não consegue prescindir de Anna, torna-se dependente dela. Afirma o filósofo que uma das supremas missões da mulher é exigir a perfeição no homem, tirar dele o seu melhor. E o homem, que pensa dominar a situação, é dominado –guiado, promovido- pela idéia que e a mulher tem dele, e busca corrigir-se para agradá-la, adequando-se. Um sorriso, ou uma reprovação da mulher, tem efeito formador sobre os homens, que saberão encontrar melhores estilos de vida deste modo. Tudo isto é aquilo que sabemos bem: um homem descuidado –nos modos, no vestir, no estilo- faz-nos suspeitar que careça de uma mulher que lhe coloque na linha.  O tema não é novidade, e filósofos e escritores o exploram à vontade. Naill Williams, num delicioso romance irlandês (Quatro Cartas de Amor) afirma que são as mulheres as que criam os maridos. Assim, uma vez dispondo da matéria prima –o rapaz do qual se enamoram- começam os quarenta anos de trabalho constante para fabricar o homem com quem podem viver. Chesterton, com seu humor inigualável diz que a mulher representa a saúde mental no lar, o local onde a mente tem de regressar depois das excursões pelas extravagâncias. E reconhece que para tanto, deve ser uma verdadeira equilibrista, protagonista de um ofício generoso, perigoso e romântico. Voltando ao filme, e à nossa estudante do conservatório que possui estes predicados. Mesmo que Anna Holtz seja fictícia, não o são estas considerações. Talvez por isso a sua figura encante as senhoras octogenárias, perdidamente femininas. Contam que a mãe de Pedro Almodóvar chegou a lhe dizer um dia: “Meu filho, com esses filmes que você faz, eu nem tenho coragem de conversar com as vizinhas”. Talvez isto seja lenda, pura maldade, mas não há como negar que os comentários das mães carregam doses enormes de verdade e de bom senso. Cabe ao Almodóvar ver como facilitar o trabalho da mãe dele, para que se enturme com as amigas. Da minha parte penso que quando a minha mãe e a minha tia, -as damas octogenárias familiares de quem falei- saem do cinema transformadas, não posso menos de recomendar o filme, sem nenhuma restrição, convicto de que, no mínimo, serão momentos deliciosos, de tremendo bom gosto. O Segredo de Beethoven (Copying Beethoven). Dir: Agnieszka Holland. Ed Harris, Diane Kruger, Nicholas Jones. 104m
O tema não é novidade, e filósofos e escritores o exploram à vontade. Naill Williams, num delicioso romance irlandês (Quatro Cartas de Amor) afirma que são as mulheres as que criam os maridos. Assim, uma vez dispondo da matéria prima –o rapaz do qual se enamoram- começam os quarenta anos de trabalho constante para fabricar o homem com quem podem viver. Chesterton, com seu humor inigualável diz que a mulher representa a saúde mental no lar, o local onde a mente tem de regressar depois das excursões pelas extravagâncias. E reconhece que para tanto, deve ser uma verdadeira equilibrista, protagonista de um ofício generoso, perigoso e romântico. Voltando ao filme, e à nossa estudante do conservatório que possui estes predicados. Mesmo que Anna Holtz seja fictícia, não o são estas considerações. Talvez por isso a sua figura encante as senhoras octogenárias, perdidamente femininas. Contam que a mãe de Pedro Almodóvar chegou a lhe dizer um dia: “Meu filho, com esses filmes que você faz, eu nem tenho coragem de conversar com as vizinhas”. Talvez isto seja lenda, pura maldade, mas não há como negar que os comentários das mães carregam doses enormes de verdade e de bom senso. Cabe ao Almodóvar ver como facilitar o trabalho da mãe dele, para que se enturme com as amigas. Da minha parte penso que quando a minha mãe e a minha tia, -as damas octogenárias familiares de quem falei- saem do cinema transformadas, não posso menos de recomendar o filme, sem nenhuma restrição, convicto de que, no mínimo, serão momentos deliciosos, de tremendo bom gosto. O Segredo de Beethoven (Copying Beethoven). Dir: Agnieszka Holland. Ed Harris, Diane Kruger, Nicholas Jones. 104m Desta vez foi um amigo, educador com experiência e muitas horas de vôo, quem deu a sugestão. “Assisti com os alunos um filme ótimo, pensei em você. Não sei, escreva algo assim como… sem medo de ser feliz. Estamos precisando, meu caro, e muito. A juventude anda travada”. Arquivei o email, passei para o próximo e pensei: estamos ficando velhos. O meu amigo e eu. Esses diagnósticos sobre a juventude é filme que já vi antes. Mas, de repente, parei. Voltei ao email na pasta de pendentes, e reli o comentário. Na verdade, dizer que a juventude anda mal, não é novidade, é papo de velho, sim. Mas o sinal está trocado. Os velhos criticam a falta de prudência da juventude, avoada, inconsciente, rebelde sem causa, desde os tempos do saudoso James Dean. Mas travada –com medo- é algo novo. São os velhos os que colocam limite aos desvarios da juventude, em versão LSD, Maio 68, seja lá o que for. Agora parece que a juventude é quem nasce com limites, vem travada de fábrica, e cabe aos mais experientes empurrá-los. O mundo às avessas. Um fenômeno que merece reflexão.
Desta vez foi um amigo, educador com experiência e muitas horas de vôo, quem deu a sugestão. “Assisti com os alunos um filme ótimo, pensei em você. Não sei, escreva algo assim como… sem medo de ser feliz. Estamos precisando, meu caro, e muito. A juventude anda travada”. Arquivei o email, passei para o próximo e pensei: estamos ficando velhos. O meu amigo e eu. Esses diagnósticos sobre a juventude é filme que já vi antes. Mas, de repente, parei. Voltei ao email na pasta de pendentes, e reli o comentário. Na verdade, dizer que a juventude anda mal, não é novidade, é papo de velho, sim. Mas o sinal está trocado. Os velhos criticam a falta de prudência da juventude, avoada, inconsciente, rebelde sem causa, desde os tempos do saudoso James Dean. Mas travada –com medo- é algo novo. São os velhos os que colocam limite aos desvarios da juventude, em versão LSD, Maio 68, seja lá o que for. Agora parece que a juventude é quem nasce com limites, vem travada de fábrica, e cabe aos mais experientes empurrá-los. O mundo às avessas. Um fenômeno que merece reflexão.  Will Smith é Chris Gardner, um “self-made-man”, que acumula derrotas e insucessos, mas faz questão de não se conformar, e acaba triunfando. Os tropeços são para Gardner alavanca para novos empreendimentos. Diante de um degrau, muitos tropeçam, caem, e choram. Alguns, os inconformistas, sobem no degrau e visualizam o mundo com outra perspectiva. Não tem medo de ser felizes; vão atrás da felicidade, em verdadeira procura, perseguem-na sem trégua, como aponta o sugestivo título original em inglês. Talvez seja isto o que o meu amigo sugeria: estar travado é não perseguir a felicidade. É conformar-se com o que vem em monótona passividade. Ou, talvez é procurar ser feliz pelos caminhos errados, quer dizer, contentar-se com uma caricatura de felicidade que, naturalmente, desbota com o tempo.
Will Smith é Chris Gardner, um “self-made-man”, que acumula derrotas e insucessos, mas faz questão de não se conformar, e acaba triunfando. Os tropeços são para Gardner alavanca para novos empreendimentos. Diante de um degrau, muitos tropeçam, caem, e choram. Alguns, os inconformistas, sobem no degrau e visualizam o mundo com outra perspectiva. Não tem medo de ser felizes; vão atrás da felicidade, em verdadeira procura, perseguem-na sem trégua, como aponta o sugestivo título original em inglês. Talvez seja isto o que o meu amigo sugeria: estar travado é não perseguir a felicidade. É conformar-se com o que vem em monótona passividade. Ou, talvez é procurar ser feliz pelos caminhos errados, quer dizer, contentar-se com uma caricatura de felicidade que, naturalmente, desbota com o tempo.  O que seja a felicidade é assunto intrincado, filosófico, e certamente não é o que o filme se propõe. Mas é bom saber de que vai o tema, pois não adianta correr atrás de algo que se desconhece. Neste mundo globalizado a comunicação é quase instantânea, e a rapidez de movimentos atingiu níveis nunca antes vistos. Mas não basta correr se o caminho não leva ao objetivo previsto. Já dizia Agostinho: “Bene curris, sed extra viam”. Quer dizer, corres bem, com uma Ferrari talvez, mas fora do caminho. Penso que o conselho do nosso sábio aplica-se perfeitamente aos nossos cibernavegadores globalizados do século XXI.
O que seja a felicidade é assunto intrincado, filosófico, e certamente não é o que o filme se propõe. Mas é bom saber de que vai o tema, pois não adianta correr atrás de algo que se desconhece. Neste mundo globalizado a comunicação é quase instantânea, e a rapidez de movimentos atingiu níveis nunca antes vistos. Mas não basta correr se o caminho não leva ao objetivo previsto. Já dizia Agostinho: “Bene curris, sed extra viam”. Quer dizer, corres bem, com uma Ferrari talvez, mas fora do caminho. Penso que o conselho do nosso sábio aplica-se perfeitamente aos nossos cibernavegadores globalizados do século XXI. As pessoas mudam, podem melhorar. Isso nos abre à esperança em tempos de desencanto. A decepção com o ser humano – afinal, as frustrações com as instituições são fruto das infidelidades das pessoas que as formam – parece estar na ordem do dia. Ler o jornal e sair incólume é, frequentemente, um desafio que deve ser conquistado diariamente. Precisamos de estoques de otimismo maiores que as reservas de petróleo que vão sendo descobertas no território nacional. Nunca gostei de Leonardo Di Caprio. Ou melhor, sempre o considerei um garoto caprichoso, desde que ficou emburrado quando não lhe entregaram o Oscar por Titanic, dez anos atrás. Chateou-se mesmo, e nem compareceu à festa. Padecia daquele complexo tão freqüente nos adolescentes que pisam a calçada da fama de ser o umbigo do mundo. E o mundo nem ligou para ele. Daí o meu pé atrás e a minha resistência para assistir os filmes que contém o seu nome nos créditos.
As pessoas mudam, podem melhorar. Isso nos abre à esperança em tempos de desencanto. A decepção com o ser humano – afinal, as frustrações com as instituições são fruto das infidelidades das pessoas que as formam – parece estar na ordem do dia. Ler o jornal e sair incólume é, frequentemente, um desafio que deve ser conquistado diariamente. Precisamos de estoques de otimismo maiores que as reservas de petróleo que vão sendo descobertas no território nacional. Nunca gostei de Leonardo Di Caprio. Ou melhor, sempre o considerei um garoto caprichoso, desde que ficou emburrado quando não lhe entregaram o Oscar por Titanic, dez anos atrás. Chateou-se mesmo, e nem compareceu à festa. Padecia daquele complexo tão freqüente nos adolescentes que pisam a calçada da fama de ser o umbigo do mundo. E o mundo nem ligou para ele. Daí o meu pé atrás e a minha resistência para assistir os filmes que contém o seu nome nos créditos. Tropa de Elite (2007).Direção: José Padilha. Wagner Moura, André Ramiro. Caio Junqueira.O filme estava na boca de todo o mundo. A bola da vez. Por isso, não hesitei em perguntar a um amigo, Coronel da Reserva da PM o que lhe tinha parecido. “Não vi” – respondeu. “Tenho certo pé atrás com esses filmes denuncia, que muitos utilizam para se promover. Mas uma coisa é certa: quem ama com paixão o que faz, esse chega longe”. Sorri enquanto assentia. “Sabe –disse-me- esse é o grande mal de hoje, da juventude até. As pessoas não têm nada na cabeça, não têm paixão, não amam o que fazem.” E para mostrar que tinha entendido o recado, atrevi-me a comentar: “É verdade, Coronel. Mesmo quem tem idéias apaixonadas, embora muito questionáveis, já é um começo. Veja, por exemplo, os homens de Al-Queda. Certamente não podemos aprovar o que fazem. Mas pelo menos tem algo dentro”. Foi ele quem sorriu nesse momento, levantou-se e me ofereceu um café que fez questão de servir pessoalmente.Nos dias seguintes, andei dando voltas ao comentário do Coronel. E reparei que foi isso o que me cativou do filme: ver pessoas determinadas, comprometidas, que amam o que fazem. A ausência dessa atitude nos dias de hoje, torna o filme atraente, sugestivo, tem pegada. Não é a denuncia da corrupção, nem a crítica ao poder corporativo pervertido, nem a violência, nem informar do que já sabemos: que onde há pobreza, sempre há quem vive dos pobres, e deles tira o seu maior lucro. Essa é a temática onde o filme se ancora, mas o recado –talvez aquele que muitos não sabem exprimir, mas que lhes fez adorar a fita- é outro muito diferente. Uma chacoalhada tremenda na mediocridade. Mexe com os brios… daqueles que ainda conservam algum, porque temos de convir que brio, decisão, gana, é produto escasso no mercado de hoje. Fácil é deduzir, ao compasso dos fotogramas, que é justamente a mediocridade o caldo de cultura onde cresce a corrupção, a violência, a hipocrisia. A mediocridade dos que deveriam fazer algo e não fazem, a omissão crônica, o famoso “deixa como está para ver como é que fica” dos que tem voz e comando, facilita e promove as vilezas dos menos privilegiados. Culpar o crime é fácil e inútil. O que a nossa sociedade precisa hoje é de uma condena impiedosa da mediocridade.
Tropa de Elite (2007).Direção: José Padilha. Wagner Moura, André Ramiro. Caio Junqueira.O filme estava na boca de todo o mundo. A bola da vez. Por isso, não hesitei em perguntar a um amigo, Coronel da Reserva da PM o que lhe tinha parecido. “Não vi” – respondeu. “Tenho certo pé atrás com esses filmes denuncia, que muitos utilizam para se promover. Mas uma coisa é certa: quem ama com paixão o que faz, esse chega longe”. Sorri enquanto assentia. “Sabe –disse-me- esse é o grande mal de hoje, da juventude até. As pessoas não têm nada na cabeça, não têm paixão, não amam o que fazem.” E para mostrar que tinha entendido o recado, atrevi-me a comentar: “É verdade, Coronel. Mesmo quem tem idéias apaixonadas, embora muito questionáveis, já é um começo. Veja, por exemplo, os homens de Al-Queda. Certamente não podemos aprovar o que fazem. Mas pelo menos tem algo dentro”. Foi ele quem sorriu nesse momento, levantou-se e me ofereceu um café que fez questão de servir pessoalmente.Nos dias seguintes, andei dando voltas ao comentário do Coronel. E reparei que foi isso o que me cativou do filme: ver pessoas determinadas, comprometidas, que amam o que fazem. A ausência dessa atitude nos dias de hoje, torna o filme atraente, sugestivo, tem pegada. Não é a denuncia da corrupção, nem a crítica ao poder corporativo pervertido, nem a violência, nem informar do que já sabemos: que onde há pobreza, sempre há quem vive dos pobres, e deles tira o seu maior lucro. Essa é a temática onde o filme se ancora, mas o recado –talvez aquele que muitos não sabem exprimir, mas que lhes fez adorar a fita- é outro muito diferente. Uma chacoalhada tremenda na mediocridade. Mexe com os brios… daqueles que ainda conservam algum, porque temos de convir que brio, decisão, gana, é produto escasso no mercado de hoje. Fácil é deduzir, ao compasso dos fotogramas, que é justamente a mediocridade o caldo de cultura onde cresce a corrupção, a violência, a hipocrisia. A mediocridade dos que deveriam fazer algo e não fazem, a omissão crônica, o famoso “deixa como está para ver como é que fica” dos que tem voz e comando, facilita e promove as vilezas dos menos privilegiados. Culpar o crime é fácil e inútil. O que a nossa sociedade precisa hoje é de uma condena impiedosa da mediocridade. Os filmes de professores contam, quase sempre, a mesma história. Os desafios que alguém, apaixonado pela educação, tem de enfrentar com a rebeldia dos alunos, a indiferença hipócrita do sistema e a passividade da sociedade. As histórias, embora semelhantes são também, justo é reconhecê-lo, reconfortantes, um facho de luz e um ponto de esperança sobre a mediocridade que nos envolve. Desta vez é a uma magnífica que decide aposentar a luvas de Box da Menina de Ouro, para transformar-se num monumento de mulher. Erin Gruwell é uma professora que veste tailleur elegantíssimo, e faz questão de usar um colar de pérolas para dar aulas num colégio que é obrigado a aceitar um programa de integração social. Latinos, negros, e orientais, agrupados nas correspondentes gangs, sem nenhuma vontade de ser educados e ansiosos por brigas são a platéia que lhe corresponde. A sala 203, o quartel geral de Erin, mais parece um campo de batalha, permeado de ressentimentos e ódios, do que uma classe. A professora novata tem a paixão ingênua do principiante. Arruma-se com cuidado, cada manhã, enquanto pergunta ao marido que a contempla surpreso: “Diga-me, pareço uma professora?”. E confessa abertamente, à chefe do departamento: “Quando se defende um garoto no tribunal penso que já perdemos a batalha. Temos que ganhá-la antes, aqui, na sala de aula”. Um olhar cético é a única resposta de quem já tem muitas horas de vôo e pensa que esse excesso de entusiasmo se irá apagando com o tempo.
Os filmes de professores contam, quase sempre, a mesma história. Os desafios que alguém, apaixonado pela educação, tem de enfrentar com a rebeldia dos alunos, a indiferença hipócrita do sistema e a passividade da sociedade. As histórias, embora semelhantes são também, justo é reconhecê-lo, reconfortantes, um facho de luz e um ponto de esperança sobre a mediocridade que nos envolve. Desta vez é a uma magnífica que decide aposentar a luvas de Box da Menina de Ouro, para transformar-se num monumento de mulher. Erin Gruwell é uma professora que veste tailleur elegantíssimo, e faz questão de usar um colar de pérolas para dar aulas num colégio que é obrigado a aceitar um programa de integração social. Latinos, negros, e orientais, agrupados nas correspondentes gangs, sem nenhuma vontade de ser educados e ansiosos por brigas são a platéia que lhe corresponde. A sala 203, o quartel geral de Erin, mais parece um campo de batalha, permeado de ressentimentos e ódios, do que uma classe. A professora novata tem a paixão ingênua do principiante. Arruma-se com cuidado, cada manhã, enquanto pergunta ao marido que a contempla surpreso: “Diga-me, pareço uma professora?”. E confessa abertamente, à chefe do departamento: “Quando se defende um garoto no tribunal penso que já perdemos a batalha. Temos que ganhá-la antes, aqui, na sala de aula”. Um olhar cético é a única resposta de quem já tem muitas horas de vôo e pensa que esse excesso de entusiasmo se irá apagando com o tempo.