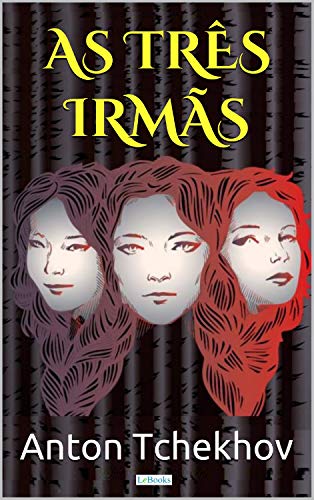Albert Camus: “A Peste”.
Albert Camus: “A Peste”. Record. Rio de Janeiro. 1947. 211 pgs.
Leituras na Pandemia- 1
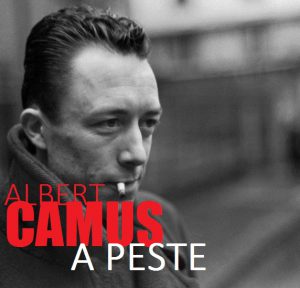
No grupo de Pensadores da Tertúlia Literária tínhamos escolhido a obra de Camus no mês de Fevereiro, quando a pandemia ficava muito longe, ainda na Ásia, e não suspeitávamos o que nos vinha em cima. A peste descrita no romance, ficava também distante, no norte da África, de modo que podiam ler-se com tranquilidade as palavras da ouverture: “Em Oran, os excessos do clima, a importância dos negócios que se tratam, a insignificância do cenário, a rapidez do crepúsculo e a qualidade dos prazeres, tudo exige boa saúde. Lá o doente fica muito só. O que dizer então daquele que vai morrer, apanhado na armadilha por detrás das paredes crepitantes de calor, enquanto, no mesmo minuto, toda uma população, ao telefone ou nos cafés, fala de letras de câmbio, de conhecimentos ou de descontos? Compreenderão o que há de desconfortável na morte, mesmo moderna, quando ela chega assim, num lugar seco”.
Com o passar das semanas, a pandemia foi se alastrando e os doentes e os mortos -aqueles que ficavam muito sós- foram chegando mais perto de nós, até atingir-nos de cheio. De repente, a nossa cidade também se fechou como aconteceu no romance em Oran: “As portas tinham sido fechadas algumas horas antes de ser publicado o decreto do prefeito e, naturalmente, era impossível levar em conta os casos particulares. A invasão brutal da doença teve, como primeiro efeito, o de obrigar nosso concidadãos a agir como se não tivessem sentimentos individuais (..) As palavras transigir, favor, exceção já não faziam sentido”.
Nossa reunião mensal foi suspensa, e a leitura da Camus tingiu-se com outro significado, mais próximo, vital, até incômodo. Negar a evidência da epidemia estava fora de questão, como parece faziam alguns personagens no início da catástrofe: “Simplesmente não se teve a coragem de lhe dar um nome. A opinião pública é sagrada: nada de pânico. E depois, como dizia um colega: ‘todo o mundo sabe que ela desapareceu do Ocidente’. Sim, todos sabiam, exceto os mortos”.
Logo no início “não se conseguia acreditar que a peste se pudesse instalar verdadeiramente numa cidade onde podiam encontrar-se funcionários modestos que cultivavam manias respeitáveis. Ele não imaginava um lugar para estas manias no meio da peste e julgava que a peste não tinha futuro entre os nossos concidadãos”. Rieux, o médico do romance, assume nestes momentos um protagonismo de atualidade contundente: “O seu papel era diagnosticar. Descobrir, ver, descrever, registrar, depois condenar. Esposas agarravam-lhe as mãos e gritavam: ‘Doutor, salve-o’, Mas ele não estava ali para salvar a vida, estava ali para ordenar o isolamento”.
Notável também o diálogo que mantém com o prefeito.
-Diga-me, sinceramente, o seu pensamento: tem certeza de que é a peste?
– O problema está mal colocado. Não é uma questão de vocabulário, mas de tempo.
– A sua ideia seria que mesmo não se tratando de peste, deveríamos adotar medidas profiláticas indicadas em tempo de peste.
– Se é absolutamente necessário que tenha uma ideia, é essa, com efeito. Digamos apenas que não devemos agir como se metade da cidade não corresse o risco de morrer, porque senão ela morrerá de fato.
As teorias e a ciência médica fazem no romance suas especulações -como as que diariamente contemplamos nos jornais. “Lembrava-se de ter lido que a peste poupava as constituições fracas e destruía sobretudo as compleições vigorosas (…) O desespero salvava-os do pânico, havia algo de bom na sua desgraça. Se acontecesse que um deles fosse levado pela doença, era quase sempre sem que tivesse tido tempo de se precaver contra isso (…) As pessoas não tiveram tempo de se ocupar da maneira como se morria à sua volta e como elas próprias morreriam um dia (…) Quando estava remetendo, vez por outra, numa espécie de sobressalto cego, levava três ou quatro doentes, cuja cura era esperada. Eram os azarentos da peste, aqueles que ela matava em plena esperança (…) Em tempo de peste não é possível levar em conta semelhantes considerações, como o sentimento natural das famílias. Tinha-se sacrificado tudo à eficácia”.
Na Peste de Camus o vetor são, como é sabido, os ratos. “Do porão ao sótão, uma dezena de ratos jazia nas escadas. ‘Estou satisfeita por voltar a ver-te, Bernard -disse a mãe do Dr. Rieux. Os ratos nada podem contra isso’. A própria terra ode estavam plantadas as nossas casas se purgava dos seus humores que deixava subir à superfície furúnculos que, até então, a minavam interiormente”.
Mas, diferente da nossa realidade onde a imprensa tem disseminado toxicamente o pânico, na cidade de Oran, a mídia comportava-se diferentemente: “A imprensa, tão indiscreta nos casos dos ratos, já não mencionava nada. É que os ratos morrem na rua e os homens em casa. E os jornais só se ocupavam da rua”.
Diante da impotência – no livro e na vida- o que realmente se baralha é a capacidade de amar, de compreender. “Parecia que o coração de todos tinha endurecido e que caminhavam o viviam ao lado dos queixumes como se fossem a linguagem natural dos homens”. E sobre tudo as carências que se deixam sentir, e que produzem indigestões e ceticismo: “Dar demasiada importância às belas ações, se presta finalmente a uma homenagem indireta e poderosa ao mal. Isto porque deixaria então supor que esta belas ações só valem tanto por serem raras e que a maldade e a indiferença são forças motrizes bem mais que frequentes nas ações dos homens (…) O mal que existe no mundo provém quase sempre da ignorância e a boa vontade, se não for esclarecida pode causar tantos danos quanto a maldade”.
Mas, tal como comprovamos hoje no nosso meio, o romance faz questão de ressaltar a lado bom das pessoas: “O que se aprende no meio dos flagelos: que há nos homens mais coisas a admirar que coisas a desprezar”. A perplexidade e o medo da própria segurança pede um olhar de compreensão, de solidariedade. “Em épocas normais, sabíamos todos, conscientemente ou não, que não há amor que não se possa superar e aceitávamos, no entanto, com maior ou menor tranquilidade que o nosso permanecesse medíocre”.
Sair do amor medíocre e egoísta, partir para “esse outro modo de proceder. Tinham ainda a atitude da desgraça e do sofrimento, mas já não os sentiam. Ao passo que nos primeiros tempos eles se surpreendiam com a quantidade de pequenas coisas que contavam muito para eles, agora somente se interessavam por aquilo que interessava aos outros, já não tinham sino ideias gerais e seu próprio amor assumira para eles a forma mais abstrata (…) Este mundo sem amor era como um mundo morto e que chega sempre uma hora em que nos cansamos das prisões, do trabalho e da coragem, para reclamar o rosto de um ser e o coração maravilhoso da ternura”.
Dizem que o mundo será diferente depois da pandemia. Mas, diferente de que modo? Aceitaremos a igualdade, despossuindo-nos das tendências do egoísmo e do amor próprio? Vale consultar de novo as palavras de Camus que trazem luz sobre o tema: “A peste, pela imparcialidade eficaz com que exercia seu ministério, deveria ter reforçado a igualdade entre os nossos concidadãos pelo jogo normal do egoísmo, mas ao contrário tornava mais acentuado o coração dos homens o sentimento da injustiça. Restava, é bem verdade a igualdade irrepreensível da morte, mas essa ninguém queria”.
O que muda os homens não são simplesmente os golpes das tragédias. É necessário assimilar as dificuldades, refletir, tomar decisões, programar as próprias mudanças. Quando falta esta transformação interior, a volta à normalidade (ao novo normal, como gostam de dizer hoje) assemelha-se a Rambert, outras das personagens do romance: “A peste tinha deixado nele uma distração que tentava negar e que, no entanto, continuava como um angustia surda. Tinha o sentimento de que a peste terminara com demasiada brutalidade, de que não recuperara a sua presença de espírito. A felicidade chegava com todo o ímpeto, o acontecimento ia mais depressa do que a expectativa. Compreendia que tudo lhe seria devolvido de uma vez e que a alegria é uma queimadura que não se saboreia”.
O médico protagonista adverte que o perigo persiste, a história se repete (como de fato comprovamos nos caminhos da humanidade) e que as tragédias se sucedem, como a peste que está à espreita: “Rieux sabia o que a multidão eufórica ignorava, o que se pode ler nos livros: o bacilo da peste não morre nem desaparece nunca, pode ficar dezenas de anos adormecido nos moveis, roupas nos porões e baús, nos lenços e na papelada. E sabia também que viria talvez o dia em que, para desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordaria os seus ratos e os mandaria morrer numa cidade feliz”.
O que fazer? Ficar ao sabor das circunstâncias, apanhar golpes das tragédias para ver se amadurecemos como as frutas verdes? A maturidade emerge da seiva interior, da vida que corre por dentro quando não se vive apenas para a plateia, para o exterior, exposto à avalanche de espasmos sensacionalistas, de notícias tóxicas (das quais se reclama depois por serem fake…..). É nesse clima interior onde é capaz de despontar a solidez, e a esperança. E, como diz Camus “a partir do momento em que a mais ínfima esperança se tornou possível para a população o reinado efetivo da peste tinha terminado”. Essa é a verdadeira vacina para as mudanças, que imuniza, que permite crescer.