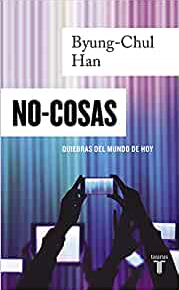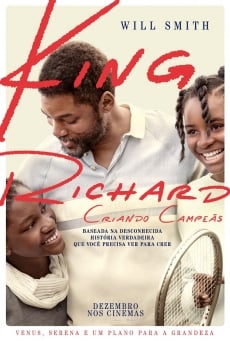Fiodor Dostoievski : “O Idiota”
Fiodor Dostoievski : “O Idiota”.Ed. 34. São Paulo, 2015. 688 págs.
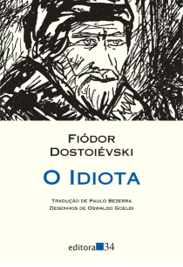
A Tertúlia Literária mensal, leva-me de volta até as páginas de Dostoievsky, lidas há muitos anos, mas sempre surpreendentes, instigadoras, por vezes enigmáticas. Dou uma olhada por cima em anotações que fui fazendo ao longo da leitura, que teve para mim um sabor de novidade: lembrei do que dizia Borges: quando voltamos a um livro passados os anos, e parece outro; na verdade, somos nós os que mudamos. E me pergunto como alinhavar tudo isto num comentário. Não é simples: nem a tentativa, nem, muito menos, o pensamento do escritor.
A descrição das personagens, ao longo do relato, é uma radiografia, ou melhor, uma disseção da alma. Aí radica um dos pontos fortes de Dostoievski que o torna um clássico perene. Fala dos “jovens, ambos quase sem bagagem, ambos vestidos sem elegância, ambos de semblantes bastante formosos e ambos com vontade de finalmente começar a conversar”. E dos “senhores sabe-tudo que às vezes são encontrados, até com bastante frequência, em certo segmento social. Sabem tudo, toda a intranquila curiosidade da sua inteligência e a sua capacidade tendem irresistivelmente para um aspecto, é claro que pela ausência de interesses e concepções de vida mais importantes, como diria um pensador de hoje. É a pura verdade, só fazem se apropriar de graça de todas as potencialidades russas”.
Leia mais