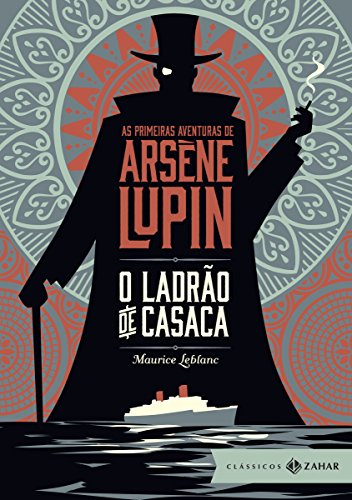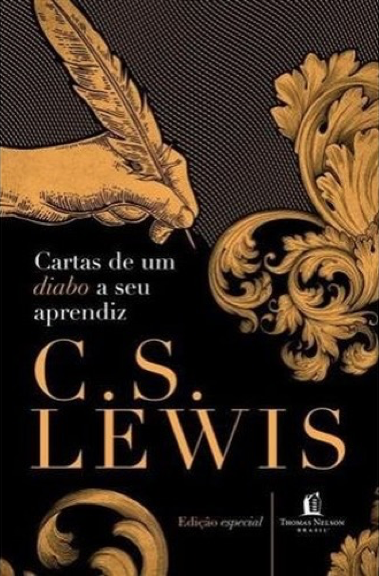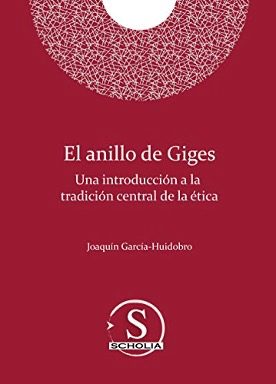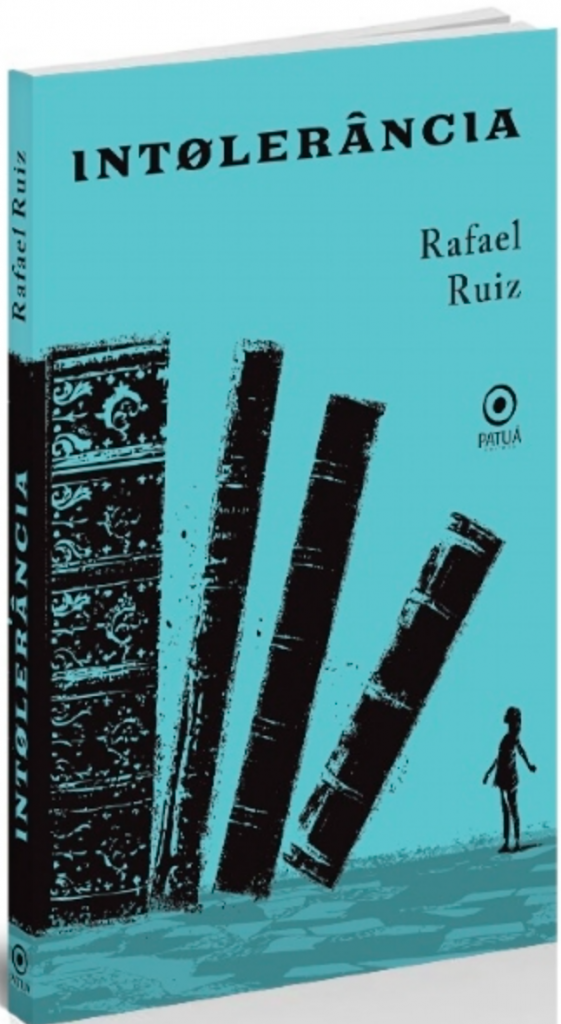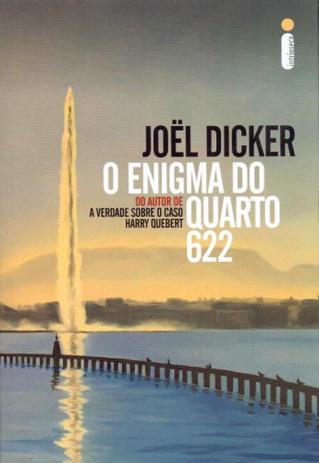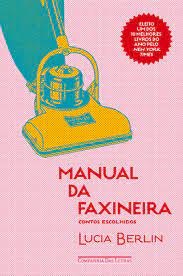William Deresiewicz: Excellent Sheep: The Miseducation of the American Elite and the Way to a Meaningful Life
El rebaño excelente. Cómo superar las carencia de la educación universitaria de Elite. Ed. Rialp. Madrid. 2019. 273 págs.
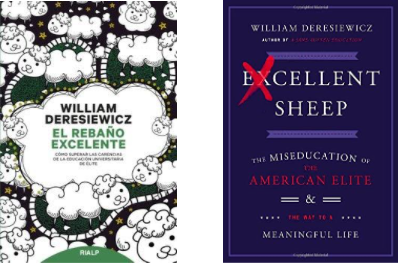
Chega às minhas mãos -quer dizer, à tela do meu tablet- a versão espanhola deste livro magnífico. Não encontro a tradução para o português, e fica aqui a sugestão para os editores porque o livro não tem desperdício. Enquanto isso, me limitarei a traduzir livremente do espanhol algumas das passagens mais significativas, embora é difícil escolher, porque são muitas as notáveis. Salpicarei com poucos comentários, porque, insisto, o livro é todo ele auto explicativo e…..provocativo!
A crítica, toda ela, é dirigida à academia, e ao sistema vigente e o que este sistema faz com os estudantes, as consequências com a sociedade e como é possível livrar-se desta ameaça. Algo análogo já tínhamos comentado neste espaço, com motivo de outro livro contundente de um professor do nosso meio.
Anota o autor: “ O sistema fabrica estudantes talentosos e motivados, mas também ansiosos, tímidos, perdidos; sem inquietude intelectual, com um sentido do propósito atrofiado. Enclausurados numa bolha de privilégios, todos caminham na mesma direção, são bons naquilo que fazem, mas não têm a menor ideia de por que o fazem”. E acrescenta assumindo a parte de culpa que nos cabe aos professores: “Publicam-se muito livros sobre educação, mas quase nenhum sobre os próprios estudantes aos que nem sequer escutamos. A educação é a via através da qual a sociedade articula seus valores e os transmite. Quando sou critico com o tipo de estudante que inunda as escolas mais seletas, na verdade estou criticando os adultos que lhes fizeram ser o que são; quer dizer, nós mesmos”.
Leia mais