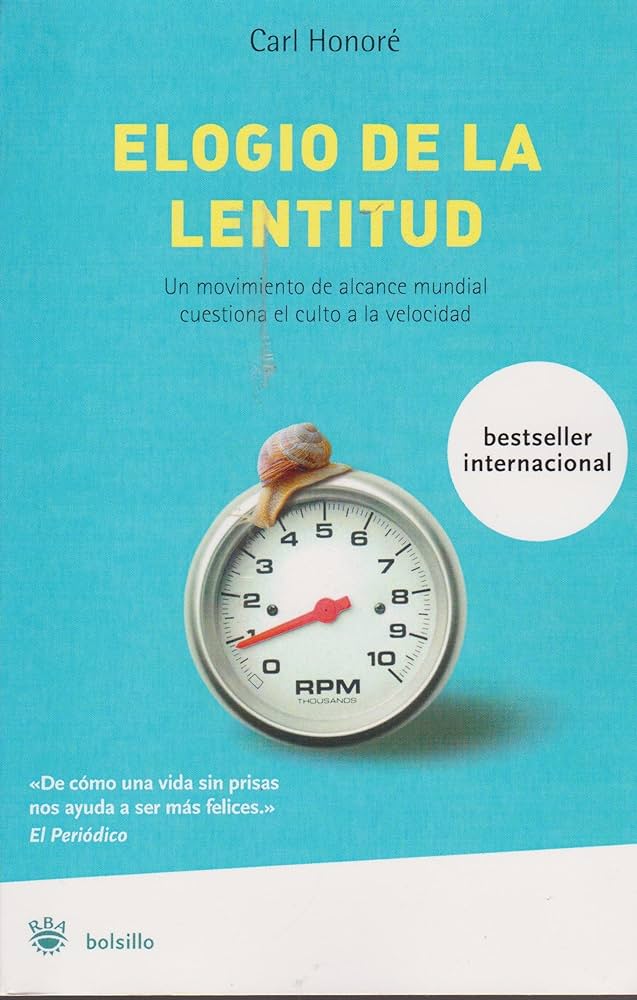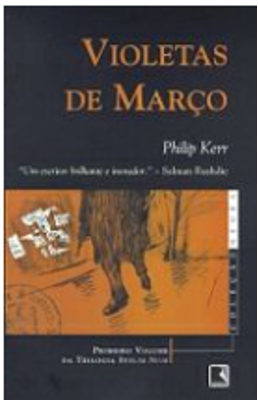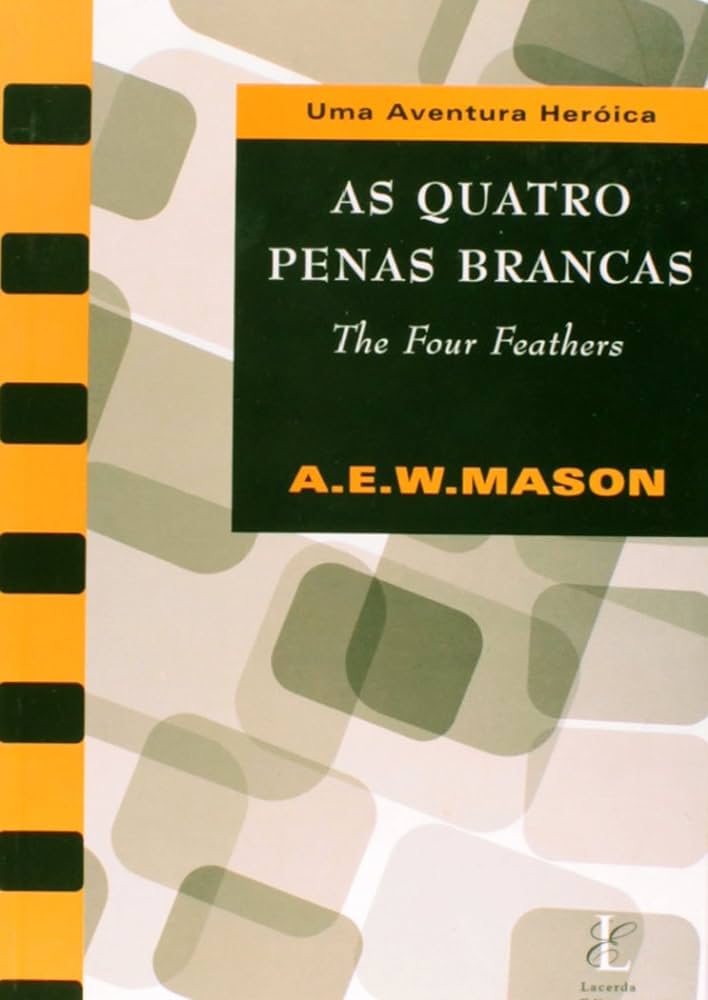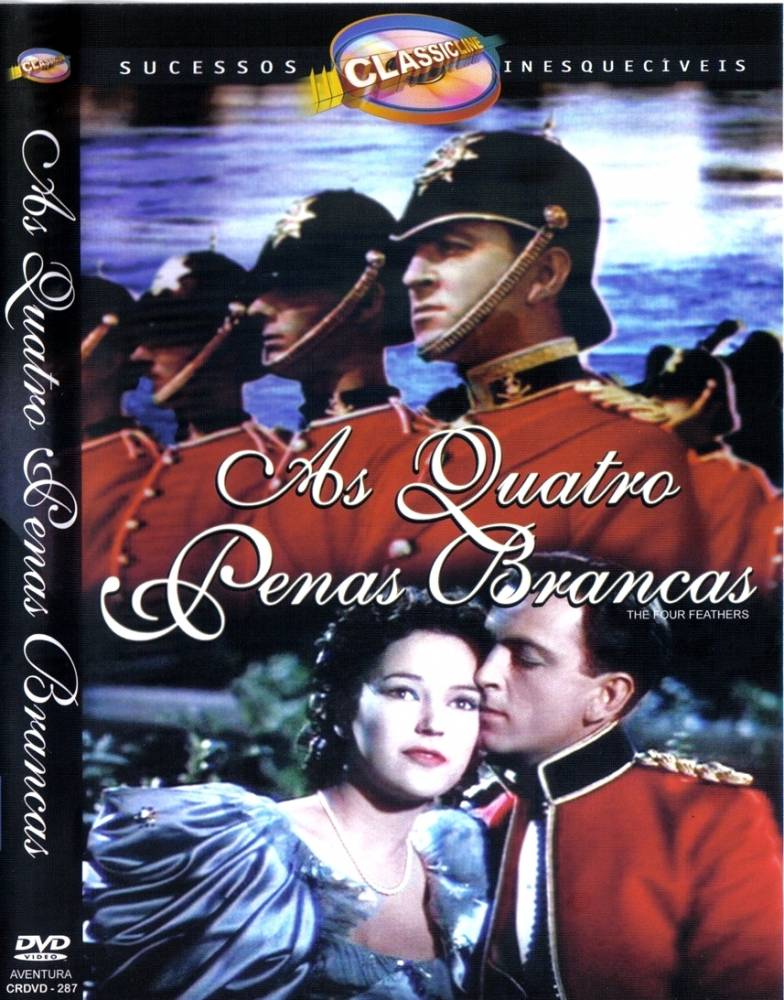Cabrini: Santidade na Trincheira
Diretor: Alejandro Monteverde. Cristiana Dell’Anna,, David Morse, John Lithgow, Giancarlo Giannini, Jeremy Bobb, Federico Castelluccio, Katherine Boecher, Patch Darragh, Rolando Villazón, Virginia Bocelli. USA. 125 min.

Forçoso é reconhecer que não sou muito chegado em filmes de Santos. Respeito e admiro o exemplo, desses homens e mulheres que tiveram uma vida que, de algum modo, foi transformando o mundo, e que todos os que queremos sair da mediocridade, nos esforçamos em imitar, cada um dentro das suas possibilidades. Nada, pois, contra os Santos. A pedra no meu sapato são os filmes, as tentativas de projetar esses exemplos de modo nem sempre feliz. Explico.
Um santo contemporâneo – S. Josemaria Escrivá, o Santo do ordinário em palavras de João Paulo II, outro santo de hoje- dizia que temos de andar com os pés na terra, e com a cabeça no Céu. Os filmes de santos, a maioria, situam eles sim com a cabeça no Céu, mas pouco mostram dos pés na terra. Uma terra que é com frequência lama, barro, e -como diz nosso Guimarães Rosa por boca do jagunço- um pais de pessoas, de carne e sangue e mil e tantas misérias. Quer dizer, falta nesses filmes uma conexão com a realidade que os simples mortais -mesmo os que aspiram à santidade- têm de enfrentar diariamente.
Obviamente há exceções, como a vida de Thomas More -um advogado e político- em filme inesquecível que arrebatou o Oscar de 1967. E a história de Giuseppe Moscati, um médico napolitano, numa longa e magnífica produção da RAI. Note-se que ambos são cidadãos comuns -quer dizer, não são frades, nem monges, nem religiosos, ou mesmo sacerdotes. Visualizamos os pés na terra que pisam, e intuímos que tem a cabeça no Céu, para cumprir suas obrigações. Digo intuímos, porque não se lhes mostra rezando a toda hora. Quando o santo tem um hábito religioso, o desafio de mostrar os pés na terra é muito maior. E aqui uma exceção notável -onde o habito é obvio, pois trata-se da reformadora do Carmelo- é a série produzia há 40 anos por TV Espanhola, sobre Teresa de Ávila. Uma mulher que sendo freira de clausura, poderia dar cursos aos CEOs em escolas de negócios! Um furação, onde o hábito de carmelita é um detalhe.
Leia mais